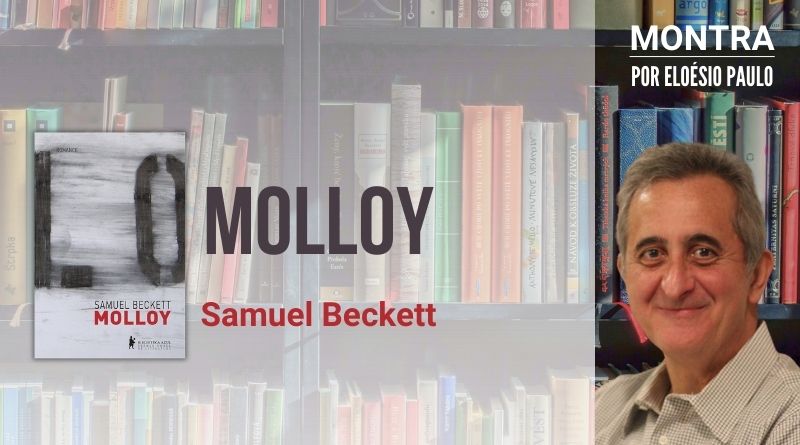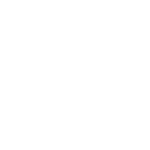Sarcasticamente, o escritor argentino Julio Cortázar disse numa crônica que Samuel Beckett e outros artistas europeus do pós-guerra estavam “tirando traças do colete” enquanto a imprensa e a academia os consideravam a última palavra em termos de elaboração estética. Com tal opinião parece concordar o segundo narrador da novela Molloy (1951), que a páginas tantas desabafa: “Tudo é fastidioso nesta narrativa que me impõem.”
O nome desse narrador é Moran, e sua tarefa – além de fazer a própria narrativa – é encontrar o narrador da primeira parte, cujo nome dá título ao livro. A missão recebida por Moran é um tanto kafkiana, pois não lhe é informado o que deve fazer quando encontrar Molloy. Sendo assim, seu périplo em demanda de um lugar chamado Bally, supostamente localizado na Irlanda, é tão absurdo quanto havia sido sua penosa caminhada na primeira metade do relato.
Beckett, morto no final da década de 1980, ganhou o prêmio Nobel de 1969. Sua obra mais conhecida é a peça Esperando Godot (1948), reconhecida entre as mais importantes do teatro moderno. Assim como ali não aparece Godot algum, ficando os protagonistas Vladimir e Estragon numa conversa à primeira vista sem qualquer sentido, na peça A cantora careca (1949), de Eugene Ionesco, o público fica a ver navios quanto à personagem mencionada no título, pois em nenhum momento sobe ao procênio qualquer cantora, com ou sem cabelos. Beckett e Ionesco foram expoentes da corrente que ficou conhecida como teatro do absurdo.
Claro, o absurdo em si significa algo. Era uma espécie de formalização da incapacidade europeia de comentar o mundo moderno a tentar reerguer-se dos escombros da Segunda Guerra. Nessa formalização, entrava um desempenho técnico e um repertório cultural que vinham da revolução modernista, e assim ninguém pode ter dúvida de que, no sistema circulatório desse teatro que parecia girar no vazio, corria um sangue kafkiano e surrealista. No caso de Beckett, também joyciano, pois o escritor irlandês foi secretário particular de seu mestre e compatriota no tempo em que este morou em Paris. Joyce e Kafka estão no topo das possibilidades expressivas da literatura moderna; então, veja-se o problema com que deparava Beckett – como escrever alguma coisa esteticamente válida depois desses dois monstros?
A resposta de Molloy parece consistir em algo que tende à afasia e à imobilidade. No caso de Moran, ainda se pode vislumbrar uma ligação com o que havia sido a tradição narrativa moderna. Há uma sucessão de pequenos episódios que compõe um pequeno enredo: ele está em casa, vivendo sua rotina com o filho e uma velha empregada, quando recebe a visita de um emissário que lhe comunica a missão de encontrar Molloy. Em seguida, mesmo atrapalhado por mil pequenas circunstâncias, parte sem saber exatamente para onde vai. No caminho, ao longo de meia dúzia de fatos que parecem apenas retardar o desfecho, o narrador encontra um jeito de encaixar no enredo – sempre ensombrado pelo desalento, embora repleto de ironias – uma piadinha misógina e uma lista de “problemas de ordem teológica” que o “preocupam extravagantemente” enquanto está voltando para casa. Isso porque havia sido dispensado da tarefa muito antes de conseguir cumpri-la. Portanto, nem chega a conhecer Molloy. Eis alguns itens da lista:
3º Maria concebeu pela orelha, como querem Santo Agostinho e Adobardo?
6º O que pensar do juramento dos irlandeses proferido com a mão direita sobre as
relíquias dos santos e com a esquerda no membro viril?
10º É verdade que São Roque em criança não queria mamar nas quartas e nas
sextas-feiras?
13º Que droga fazia Deus antes da criação?
Parece que o relato de Moran termina com uma espécie estranha de revelação mística. Ele retorna a casa e encontra tudo morto e abandonado. Então, nas últimas páginas, tem a impressão de haver compreendido uma “voz que me dizia isto e aquilo”, incluindo a ordem para que escrevesse o relato de sua expedição em busca de Molloy. As últimas linhas de sua narrativa, porém, cancelam qualquer certeza a respeito da qual pudesse iludir-se o leitor: “ Então entrei em casa e escrevi. É meia-noite. A chuva fustiga os vidros. Não era meia-noite. Não chovia.”
Quem já começou a achar ilegível um livro assim, espere pela primeira parte. Nela o narrador é Molloy, que também parte de uma cena de retorno: está no quarto antigamente ocupado por sua mãe. Molloy é desmemoriado, ignorante, ridículo e ainda padece de uma limitação física que vai piorando ao longo de seu relato. “Não sou agradável de ver, não cheiro bem” – diz ele numa das primeiras páginas do livro.
Vivendo em penoso movimento, não sabe exatamente para onde anda. Sua fala, depois de um primeiro parágrafo de apresentação, ocupa todos os espaços em cada página – não há tempo e lugar para que o leitor respire. O clima é sufocante, tudo é incerteza e opressão. Apenas lá pela vigésima página o narrador lembra seu próprio nome. O relato de Molloy consiste num automatismo deambulatório e falatório que parece feito para exemplificar a teoria de Bergson sobre o humor: seres humanos se tornam risíveis quando agem como autômatos. Este trecho pode dar uma ideia do que espera pelo leitor:
Motivos? Esqueci. Mas os conhecia, acreditava conhece-los, bastava reencontrá-los para
voar nas asas de galinha da necessidade à casa de minha mãe. Sim, tão logo se conhece o
porquê, tudo se torna fácil, simples questão de magia. Tudo se resume em conhecer o
santo. Qualquer idiota pode se devotar a ele. Quanto aos detalhes, se a gente se interessa
por detalhes, não há motivo de desespero, pois se acaba batendo na porta certa, da maneira
certa. É só para o conjunto que parece não haver encanto. Talvez conjunto não haja, a
não ser póstumo.
Ao longo de seu périplo, que cada vez se torna mais doloroso e limitado pelo endurecimento de uma perna, depois também da outra, encontra um jeito de incluir esquisitices – é a ironia amarga de Beckett – como uma estatística a respeito de sua própria atividade flatulenta: “Um dia contei os peidos. Trezentos e quinze peidos em dezenove horas, isto é, uma média de mais de dezesseis peidos por hora (…) Vamos, vamos, não passo de um peidador medíocre, fiz mal em tocar no assunto.”
Essas graçolas não bastam para aliviar o clima opressivo do relato. E, como provavelmente ocorrerá ao leitor, lá pelas tantas o próprio Molloy se declara cansado de sua história: “começo a ficar farto destas invenções e outras ainda me reclamam”. Em seguida, como para mostrar que ainda pode ser mais autocansativo, Molloy disserta ao longo de sete páginas sobre seu sistema de revezamento, entre vários bolsos, das “pedras de chupar” – eram pedras que ele, a princípio, usava para aliviar a fome, mas agora parecem mais um passatempo, tão absurdo quanto sua própria caminhada. Nesse ponto da história, ele está retornando sem ter chegado ao destino, como depois ocorrerá e seu perseguidor, Moran.
Quem deduziu que Molloy é um livro chato, acertou em cheio. Talvez numa segunda leitura, como ocorre com alguns filmes complicados, a gente possa atinar com a beleza do texto de Beckett sem se preocupar com o sentido geral da narrativa. (Que não há: o sentido é a própria falta de sentido.) Afinal, tanta gente que anda por aí cultuando Beckett como um semideus deve ter suas razões. Para leitores comuns, porém, o livro não serve.
O pior é que, ao que tudo indica, a prosa de Beckett andou influenciando alguns brasileiros contemporâneos (não peça nomes,leitor). O problema é que nenhum deles é Beckett, que com certeza sabia por que estava escrevendo daquele jeito. Um de nossos últimos escritores modernos, o uberabense Campos de Carvalho, fez dois livros que têm muitas afinidades com o absurdo beckettiano. Mas há uma diferença notável: Campos, em A lua vem da Ásia (1963) e Vaca de nariz sutil (1961), deu graça à falta de sentido porque era um grande humorista.
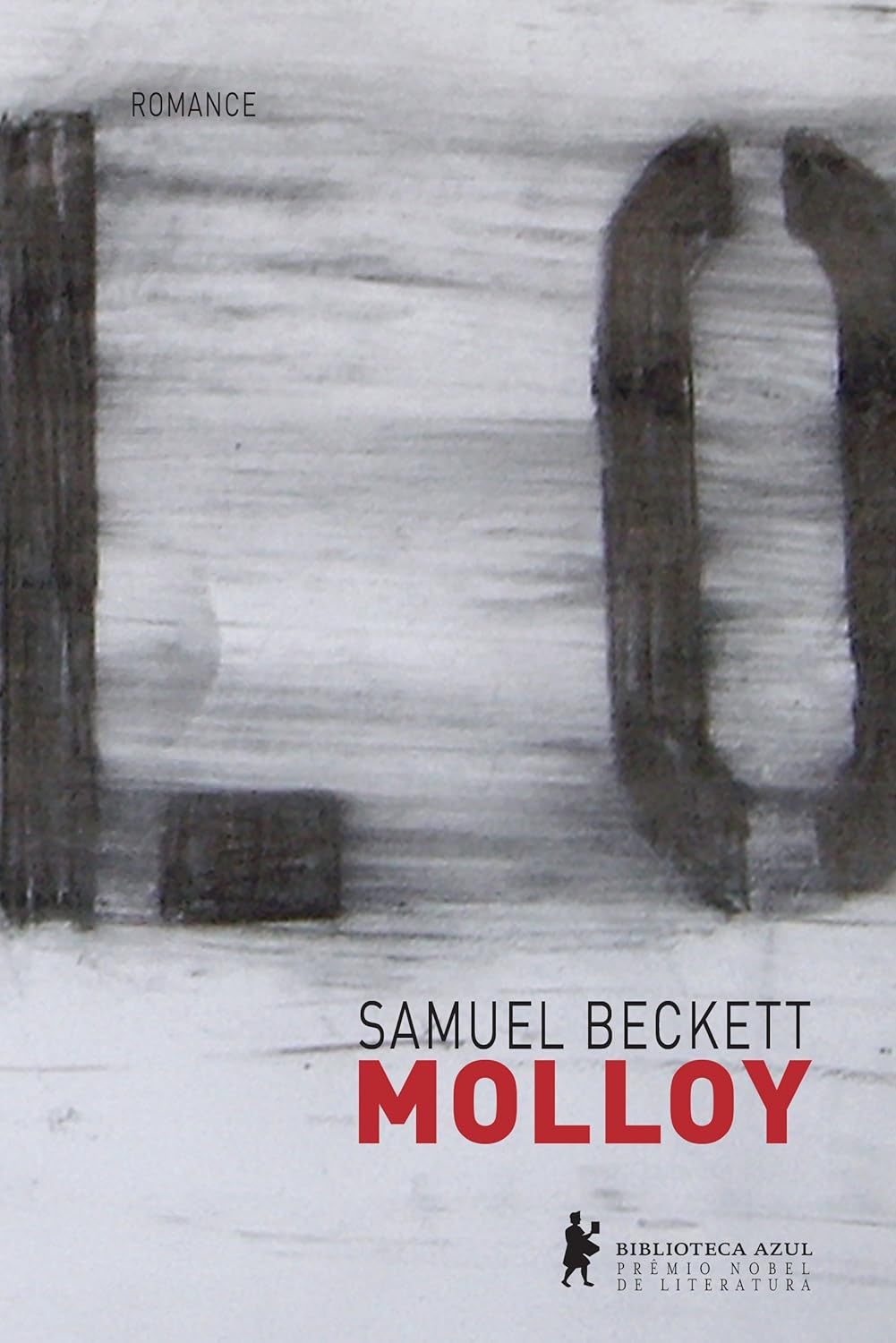
Título: Molloy
Autor: Samuel Beckett
Gênero: Romance
Ano da edição: 2014
ISBN-10: 8525057169
ISBN-13: 978-8525057167
Selo: Biblioteca Azul

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).