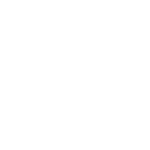Terça-feira, 07 de abril de 2020
O tipo de impacto social causado pela Covid-19 tende a ser algo cada vez mais comum a partir de agora, ao menos este é o cenário para o qual apontam os prognósticos dos estudos que, em diversas áreas, se voltam para a nova época geológica na qual estamos vivendo: a Época do Antropoceno. O meio universitário deveria se esforçar para se manter como sempre foi ou precisamos repensar radicalmente o nosso regime de produção de conhecimento?
Nesta semana a UNIFAL-MG se juntou a outros esforços de isolamento social em função da pandemia do Covid-19. Já na segunda-feira à noite recebemos orientações para a adoção de um Regime Especial de Estudos (REE), com o objetivo de permitir a manutenção do calendário acadêmico por meio de atividades remotas de ensino.
Não tardou para que essa adaptação apressada levantasse uma série de questões. Uma professora do curso de Pedagogia logo enviou um e-mail para o nosso corpo docente chamando a atenção para o fato de que manter o calendário por meio de ferramentas digitais seria uma atitude excludente. Com efeito, boa parte dos(as) estudantes da UNIFAL-MG mora no campo ou em pequenas cidades em que a democratização digital ainda não é uma realidade. Outra parte expressiva de nosso corpo discente é de baixa renda e não possui computadores ou acesso à internet fora dos campi da UNIFAL-MG, mas o uso dessas tecnologias também foi interrompido nesses espaços por motivo de segurança sanitária. A proposta da professora era que então se suspendesse o calendário, considerando também que o momento exigia de nós cuidarmos com maior atenção de nossos familiares mais vulneráveis.
A professora recebeu imediatamente várias mensagens de apoio, e sua posição foi indiretamente endossada por professores(as) que, na condição de médicos(as) e enfermeiros(as), não terão como pensar em calendário acadêmico quando tiverem que atuar diretamente no arriscado front do combate ao vírus. No entanto, logo outros argumentos foram levantados contra a suspensão do calendário acadêmico. O primeiro professor contrário à medida argumentou que o cronograma deveria ser mantido pelo menos para os casos em que as turmas estavam para se formar e em que os(as) estudantes dependiam do diploma para garantir algum emprego já em vista, desde que todos(as) tivessem acesso à internet e a computadores. Um outro professor, do curso de Ciências Sociais, acrescentou à essa última ponderação o fato de que abandonar o trabalho agora seria municiar militantes ultraliberais com argumentos que catalisariam os já anunciados cortes de nossos salários e a retirada de mais direitos do funcionalismo público. A esses dois argumentos seguiram-se uma enxurrada mensagens de apoio de professores(as) de diversas áreas. Não adiantaram outras mensagens que nos lembravam do posicionamento do nosso sindicato, o ANDES. Essa instituição publicou recentemente uma nota de repúdio à adoção de REEs, pois resolver esse problema de ensino presencial com soluções à distância seria reforçar um plano já em andamento de “flexibilizar” a gestão da educação superior com iniciativas mais “eficientes” e “baratas” como, por exemplo, transformar 40% dessa carga horária em EaD. Diversas mensagens continuam pipocando em torno dessa mesma discussão enquanto este texto ainda é escrito.
O que torna essa troca de e-mails interessante é ela chamar a atenção para um conjunto de posturas possíveis diante de um tipo de cenário que provavelmente se tornará cada vez mais constante entre nós. Todos os posicionamentos acima expressos partem do princípio de que vivemos uma crise e de que deveríamos pensar nas medidas mais eficazes para voltarmos ao normal o mais rápido possível. Minha pergunta é se realmente há, a partir de agora, um mundo em que as universidades poderiam voltar a funcionar normalmente. Considerando que o mundo em que vivemos está se transformando de maneira irreversível, do que adiantaria continuar insistindo na manutenção de um modelo de ensino que, em grande medida, contribuiu para a constituição de um cenário em que pandemias e outras catástrofes humanitárias globais se tornaram possíveis?
As coisas não voltarão ao “normal”
A pandemia de Covid-19 só foi possível em um planeta cortado por uma ampla infraestrutura que permite o fluxo global de mercadorias e pessoas. As cadeias turísticas que potencializaram a transmissão desse novo vírus cresceram exponencialmente, a partir da década de 1950, junto com outras tendências socioeconômicas que conheceram curvas muito parecidas: crescimento populacional, crescimento do PIB internacional, investimento estrangeiro direto, população urbana, uso de energias primárias, consumo de fertilizantes, construção de grandes barragens, uso de água, produção de papel, transporte e telecomunicações. Nós também podemos constatar um impacto imediato dessas novas práticas na tendência de aumento vertiginoso de diversos aspectos ligados ao sistema terrestre: quantidade de dióxido de carbono, óxido nítrico e metano na atmosfera, perda de ozônio na estratosfera, temperatura da superfície terrestre, acidificação dos oceanos, captura e criação de animais marinhos, envio de nitrogênio para as zonas costeiras, perda de florestas tropicais e degradação da biosfera.[1]
A “grande aceleração” do desenvolvimento de nossas cadeias de consumo e da correspondente degradação dos recursos indispensáveis à vida humana no planeta coincide com a disputa geopolítica travada entre EUA e URSS após o fim da Segunda Guerra Mundial pelo controle global dos meios de produção. Essa corrida econômica cedeu lugar, a partir da década de 1990, a uma competição entre corporações transnacionais apoiadas na gestão neoliberal dos Estados nacionais, e cada vez mais o crescimento do PIB tem sido atrelado à capacidade desses governos destinar seus respectivos erários para atrair investimentos transnacionais nos mercados de ações.
A discussão sobre se essas transformações no sistema terrestre teriam ou não produzido mudanças geológicas definitivas em nosso planeta surgiu há duas décadas. No ano de 2000, o biólogo Eugene Stoemer e o químico vencedor do Prêmio Nobel, Paul Crutzen, introduziram o conceito de Antropoceno no meio científico. Essa discussão parte da hipótese de que a difusão do modo de vida moderno transformou o mundo de tal forma que hoje o planeta Terra vive uma nova época geológica, potencialmente destrutiva para a própria espécie humana.[2] Mais recentemente tem-se debatido quando tais transformações teriam começado, e há um relativo consenso de que elas tiveram seu início atrelado à expansão mercantil europeia, à colonização das Américas e da África e à Revolução Industrial,[3] e foram impulsionadas no pós-1945 pelo que se tem chamado de “Grande Aceleração”.[4] Essas mudanças estão diretamente atreladas, portanto, ao projeto epistemológico e político moderno, que, por sua vez, baseia-se na progressiva domesticação e objetificação do mundo não-humano em prol do crescimento dos Estados nacionais e do Mercado.[5]
De qualquer forma, os(as) estudiosos(as) sobre os sistemas terrestres têm demonstrado que viver na época do Antropoceno significa habitar um mundo em que as transformações catastróficas introduzidas pela onto-epistemologia predatória moderna não podem mais ser revertidas. Isso significa que, a partir de agora, precisamos aprender a viver em um mundo em que os eventos meteorológicos extremos serão cada vez mais comuns, em que a produção de alimentos será cada vez mais adversa e mal distribuída, em que movimentos migratórios de massa – isto é, o surgimento de “refugiados climáticos” – e a disputa por recursos hídricos acirrarão uma série de conflitos internacionais além de produzir guerras e revoltas onde elas ainda não existiam, em que novas doenças terão impactos globais mais imediatos, dentre outros aspectos que apontam para um cenário de “crise” constante. Aqui no Brasil esses efeitos já podem ser claramente sentidos nesses dois últimos anos marcados pelo intenso desflorestamento da floresta amazônica e os consequentes conflitos entre grileiros, garimpeiros os povos ameríndios e ribeirinhos que habitam esses territórios, por catástrofes ambientais como os crimes ambientais de Brumadinho e o vazamento de óleo na costa nordestina, pelas intensas chuvas que castigaram inclusive nossos(as) estudantes no início deste ano aqui no Sul de Minas e, agora, o impacto local das mais recente pandemia. Todos esses eventos, com destaque especial deste último, cobraram, em maior ou menor grau, a suspensão momentânea de nossas atividades acadêmicas corriqueiras e um posicionamento mais urgente e militante, voltado para o presente e para o futuro. É muito provável que esse tipo de suspensão seja cada vez mais a norma, tornando insustentável e inviável o tipo de atividade intelectual à qual estamos acostumados a nos dedicar.
É preciso somar a tudo isso o fato de que as estruturas neoliberais de governo que se instalaram, quase sem exceções, em todos os Estados nacionais do globo, têm adotado, nas últimas décadas, a produção de crises como forma de governo.[6] Não é nenhuma novidade a estratégia adotada nos últimos dias por Trump e Bolsonaro, por exemplo, de aprovarem medidas de exceção em que recursos públicos são destinados para o salvamento grupos empresariais. Nos últimos anos produziram-se “crises econômicas”[7] que permitiram o salvamento de bancos, os quais, por sua vez, nunca lucraram tanto quanto nesses períodos.[8] Agora é a vez de setores ligados aos transportes e ao turismo receberem o apoio governamental, sem a cobrança de contrapartidas que limitem os impactos catastróficos que as mesmas causam e que talvez sejam os principais responsáveis pela pandemia que agora presenciamos. Se esses governos levarem à risca a máxima do economista ultraliberal Milton Friedman, segundo a qual as crises geram oportunidades de novos lucros, é muito provável que cenários de crise constante como os que temos vivido nos últimos meses sejam a nova normalidade.
As universidades e a aceleração da catástrofe
A expansão do sistema universitário brasileiro está diretamente ligada a essas recentes transformações nos sistemas globais de fluxos financeiros. Durante a ditadura brasileira de 1964-1985, as políticas curriculares, a ampliação das universidades federais e a consolidação de nosso sistema de pós-graduação decorreu de uma política desenvolvimentista autoritária que privilegiava crescimento infraestrutural e industrial às custas do esvaziamento da autonomia intelectual. Na era FHC, embora em tempos de maior liberdade de pensamento, o modelo de expansão universitária passou a privilegiar as demandas do Banco Mundial e as necessidades do novo mercado internacional, acarretando entre nós o surgimento, em grande medida descontrolado, de cursos superiores privados em detrimento do investimento no setor público. Durante o período “neodesenvolvimentista”, iniciado pelo governo petista, esse modelo foi mantido, com a tentativa de fortalecimento de um sistema universitário público mais autônomo. Todavia, a ampliação desse sistema dependeu do pacto estabelecido entre governo e mercado, que se tornou insustentável a partir da crise financeira global de 2008, e, além disso, foram mantidos os critérios de avaliação e distribuição de recursos calcados em um modelo de produtividade predominantemente ligado aos anseios de crescimento econômico.[9]
Encerrado o ciclo neodesenvolvimentista dos anos 2002-2014, a normalidade à qual a grande maioria de trabalhadores(as) da educação superior pública brasileira gostaria de retornar é a daqueles anos de melhoria na qualidade de trabalho, expansão e democratização das vagas e internacionalização. Para isso seria necessário um crescimento sustentado como aquele que conhecemos ao longo dos governos petistas, em que seria possível manter uma classe trabalhadora satisfeita com seus novos padrões de consumo e, ao mesmo tempo, a lucratividade dos setores financeiros. Todavia, esse quadro não será mais possível diante da equação necessidade de constante incremento do consumo versus progressiva escassez de recursos naturais disponíveis.
Sobre as relações entre consumismo e institucionalização das universidades é preciso fazer dois comentários. Em primeiro lugar, tanto um quanto a outra só fazem sentido no quadro onto-epistemológico característico do que se tem chamado de “modernidade”. A onto-epistemologia moderna se baseia em uma grande divisão do mundo em polos dicotômicos, a exemplo de “Homem” e “Animal”, “Sociedade/Cultura” e “Natureza”, “Civilizado” e “Primitivo/Selvagem/Bárbaro”, “Sujeito” e “Objeto” etc. São essas dicotomias que fundam tanto os regimes de propriedade quanto os de conhecimento que caracterizam o modo de vida hierarquizado no qual vivemos. Os fundamentos cartesianos da epistemologia moderna, isto é, a definição de sujeitos e de objetos do conhecimento, é a mesma que estabelece os limites entre proprietário e propriedade. Saber é poder. Ou, como já afirmavam Theodor Adorno e Max Horkheimer logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, “a distância do sujeito com relação ao objeto, que é o pressuposto da abstração, está fundada na distância em relação à coisa, que o senhor conquista através do dominado”.[10]
A atualização racionalista trazida pelo Iluminismo reafirmou um humanismo universalista que define o progresso como o processo acelerado de libertação da “Humanidade” em relação à “Natureza” por meio da “Razão”. Desde então a “neutralidade científica” tem sido posta cada vez mais em favor do “processo civilizatório”, o que significou o desenvolvimento de tecnologias a serviço da obra civilizadora do Estado. Independentemente de esses estados serem supostamente mais “universalistas”, como no caso francês e estadunidense, ou “holistas/nacionalistas” como nos casos alemão e mesmo brasileiro (pós-Vargas), a verdade é que essas obras civilizadoras foram responsáveis por processos de colonialismo interno e externo e de intensa exploração de recursos naturais. A ciência e a tecnologia foram assim invariavelmente instrumentalizadas nessa obra de progressivo domínio da Natureza em nome da Civilização, e as ideias mais recentes de “progresso” e “desenvolvimento” apenas atualizaram a ideia central de expropriação de tudo aquilo que, por meio de nosso aparato epistemológico, é definido como passível de apropriação pelo “bem público”. Historicamente, portanto, a universidade e outras instituições de pesquisa e ensino têm funcionado como dispositivos com uma significativa responsabilidade pela aceleração das condições que hoje tornam a vida humana no planeta cada vez mais difícil.
Por outro lado, precisamos reconhecer que as universidades também são ambientes complexos. Suas salas de aula, laboratórios, auditórios e anfiteatros, escritórios e almoxarifados, corredores e muros, todos esses espaços são conformados e transformados cotidianamente por controvérsias que se consolidam mediante agenciamentos de pessoas, instrumentos, artefatos e conceitos cujas configurações não podem ser determinadas e previstas de antemão. Para além da pulsão predatória mais ampla e poderosa impingida pela modernidade, as universidades também conformam espaços de resistência, a exemplo dos diversos projetos tecidos entre pesquisadores(as) e indígenas, negros(as) e quilombolas, mulheres e toda uma diversidade de condição de gêneros, crianças, artistas e pensadores marginalizados, pobres e todo tipo de coletivo que encontra no meio universitário potentes instrumentos produtores de múltiplas linhas de fuga. São esses movimentos provocadores e inovadores que também transformaram a universidade em uma quase inimiga-pública-número-um dos projetos autoritários de sociedade hoje no (des)governo do país. Também foram essas diferentes composições que levaram diversos(as) cientistas no mundo a chegarem a conclusões muito próximas daquelas há muito conhecidas por diversas perspectivas onto-epistemológicas ameríndias.[11]
No entanto, nossa atividade ainda depende largamente das redes-infraestruturais que, em grande medida, são as mesmas que possibilitaram a disseminação global do Covid-19. Nossa crescente dependência acadêmica de informações e sistemas disponíveis em computadores e na internet demandam o constante consumo de dispositivos cuja produção está assentada na indústria do plástico, na exploração de minerais raros e no uso de energia elétrica, compondo assim parte importante nos impactos socioambientais contra os quais lutam ambientalistas e povos originários em defesa de seus territórios ancestrais. Nossas atividades igualmente demandam constantes deslocamentos locais e transnacionais para a realização de atividades de campo, participação em eventos e congressos e mesmo trabalho diário que certamente contribuem com a emissão de poluentes na atmosfera, com a indústria global do turismo e com os processos de gentrificação e segregação urbana relacionados aos locais em que nossas universidades são construídas e nas casas que nós escolhemos para morar. Em síntese, por mais que sejamos intelectualmente conscientes da vida na Época do Antropoceno, essa própria consciência já custou, entre nós, acadêmicos, uma enorme pegada antrópica no planeta. Seria realmente uma boa ideia retornar à “normalidade” do período de crescimento exponencial vida acadêmica, mesmo considerando a inevitável aceleração da já saturada antropização do planeta?
A essa altura pode parecer que os argumentos deste texto escondiam até aqui um inconfessável elitismo acadêmico, como se a alternativa fosse cerrar as portas e manter na torre de marfim somente aqueles(as) que já conseguiram entrar. Essa é, realmente, uma posição difícil e contraditória, pois esse texto mesmo só foi produzido em função do contexto de expansão universitária dos anos petistas e das tecnologias digitais de informação e comunicação criticados acima. No entanto, esse mesmo texto, irônico o suficiente a ponto de colocar a si próprio sob suspeição, também é fruto do impacto de um outro tipo de saberes. Esses saberes nunca precisaram de computadores, de salas de aula, de paredes de concreto, de títulos acadêmicos para produzirem, há muito tempo, o tipo de resposta que somente agora o pensamento acadêmico começa a imaginar. Entre os ameríndios e outros povos que resistiram e re-existiram aos fins de seus mundos impostos pela expansão global da onto-epistemologia predatória moderna, superar o “fim do mundo” que se anuncia é uma prática cotidiana desde o século XV.[12] Esses saberes, necessários para resistirmos às constantes “crises” que nos serão impostas pelo nosso próprio modo de vida, queiramos agora ou não, tem muito menos a ver com a conexão em relação às redes globais de informação, energia, transportes e mercadorias, à qual nossas universidades sempre estiveram ligadas, e muito mais a ver com a reconexão à terra e aos seres que a nossa epistemologia apartou de nós para a construção da ciência moderna.
Seria, portanto, uma boa ideia esperarmos o fim dessa crise epidemiológica para retornarmos à vida normal da academia? Talvez o próprio Covid-19 esteja nos ensinando algo, ainda que à custa de muitas vidas desamparadas: a nossa desconexão do mundo da produção e da burocracia, o retorno aos nossos lares e o convívio mais direto com os diversos seres com os quais coabitamos também diminuiu de forma drástica, nos últimos dias, as emissões de poluentes que têm reduzido em ritmo acelerado o nosso tempo futuro neste planeta.[13] Ou nós desenvolvemos as artes de percepção desses sinais ou teremos que nos acostumar com o violento impacto das sucessivas “crises” que não mais conseguiremos prever ou em relação às quais não poderemos mais reagir.
[1] Poderíamos também acrescentar a área de terra domesticada, embora essa transformação tenha se acelerado até a década de 1950 e, de lá para cá, mantido apenas um crescimento suave em função, certamente da intensificação de seu uso. A respeito do turismo internacional, o salto foi de aproximadamente 50 milhões de chegadas por ano em 1950 para quase 1 bilhão em 2010. Todos esses dados podem ser encontrados em BONNEUIL, C.; FRESSOZ, J.-B. The shock of the Anthropocene. London; New York: Verso, 2017.
[2] CRUTZEN, P. J.; STOERMER, E. F. The Anthropocene. Global Change Newsletter, n. 41, p. 17-18, 2000.
[3] DAVIS, H.; TODD, Z. On the importance of a date, or decolonizing the Anthropocene. ACME: An International Journal for Critical Geographies, v. 16, n. 4, p. 761-780, 2017.
[4] BONNEUIL, C.; FRESSOZ, J.-B, op. cit., MCNEILL, J. R.; ENGELKE, P. The great acceleration. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press, 2016, STEFFEN, W. et al. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review, v. 2, n. 1, p. 81-98, 2015, STEFFEN, W.; CRUTZEN, P. J.; MCNEILL, J. R. The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature. AMBIO: A Journal of the Human Environment, v. 36, n. 8, p. 614-621, Dezembro 2007.
[5] BONNEUIL, C.; FRESSOZ, J.-B, op. cit., CAPIBERIBE, A. Um interminável Brasil colônia: os povos indígenas e um outro desenvolvimento. Revista de Estudos Indígenas, Campinas, v. 1, n. 1, p. 53-77, jul.-dez. 2018, DANOWSKI, D.; CASTRO, E. V. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie: Instituto Socioambiental, 2017, DAVIS, H.; TODD, Z., op. cit., HARAWAY, D. Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: making kin. Environmental Humanities, v. 6, p. 159-165, 2015, STENGERS, I. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
[6] COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo: n-1 Edições, 2016.
[7] A invenção de crises econômicas que, logo depois, se verificaram na prática em função da destinação de moeda circulante para aplacar o “nervosismo dos mercados”, foi registrada em memes nos meses que precederam o golpe jurídico-parlamentar-midiático responsável pela retirada definitiva de Dilma Rousseff do poder. Não obstante ainda vivêssemos um período de euforia industrial e comercial, a mídia televisiva e impressa comprometida com o sistema financeiro internacional insistiam em apontar uma “crise iminente” da economia nacional em função do excessivo investimento público. A população logo notou essa contradição por meio de memes cujo bordão era “Apesar da crise…”, ou seja, apesar da crise propalada por aquelas mídias, a produção industrial, o comércio varejista e o setor público continuavam batendo recordes.
[8] Vide, por exemplo: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/11/rentabilidade-de-bancos-brasileiros-e-a-maior-em-7-anos-revela-banco-central.ghtml. Acesso em 03/09/2019.
[9] CHAUÍ, M. S. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001, LÉDA, Denise Bessa; MANCEBO, Deise. REUNI: heteronomia e precarização da universidade e do trabalho docente. Educação & realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 1, pp. 49-64, jan./abr. 2009, MICHELOTTO, Regina Maria; COELHO, Rúbia Helena; ZAINKO, Maria Amélia Sabbag. A política de expansão da educação superior e a proposta de reforma universitária do governo Lula. Educar, Curitiba, n. 28, pp. 179-198, 2006.
[10] ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985, p. 24.
[11] CAPIBERIBE, op. cit.
[12] DANOWISKI e CASTRO, op. cit.
[13] WATTS, Jonathan; KOMMENDA, Niko. Coronavirus pandemic leading to huge drop in air pollution. The Guardian, 23 de março de 2020. Disponível em https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution. Acesso em 23/03/2020.
_______________________________________
Autor: Walter Lowande
Professor do Instituto de Ciências Humanas e Letras
Currículo Lattes