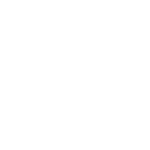Quarta-feira, 15 de abril de 2020
As grandes crises costumam trazer consigo grandes avanços na forma de organização das sociedades. Somos todos tomados por um senso de urgência que nos induz a focar nos elementos prioritários de nossas funções. Foi assim nas duas grandes guerras, e a crise suscitada pela emergência do coronavírus já se desenha como a maior crise mundial desde 1929.
As transformações no âmbito da economia já são perceptíveis. Bancos centrais liberaram grandes somas ao redor do mundo para resgatar o sistema financeiro, e os tesouros das diferentes nações mobilizam recursos para os gastos de saúde e de sustentação da atividade econômica. Mesmo no Brasil – onde a retórica dominante ao longo da última de década foi de severa austeridade – vem se constituindo um consenso de que é preciso gastar. O patamar atual da dívida pública, no entanto, é o maior jamais visto em nossa história, e ainda assim todos os economistas, mesmo os mais conservadores, estão de acordo a respeito da necessidade de se expandir os gastos, para além de qualquer meta fiscal, como forma de minimizar os efeitos da crise e permitir a recuperação futura(1).
Mas o que a chegada de um vírus fez para que de uma hora pra outra encontrássemos folga no orçamento? A verdade é que o orçamento público não é limitado pelas receitas. Se assim o fosse, a restrição aos gastos seria nesse momento mais severa do que jamais fora. A decisão de gastar ou não é essencialmente política, independentemente de suas consequências econômicas.
Tornaram-se comuns, no atual contexto, as justificativas para os gastos baseadas em John Maynard Keynes, como se o autor houvesse escrito uma cartilha para a saída de crises, com pacotes de gastos excepcionais e transitórios. Ocorre que Keynes escreveu a Teoria Geral do Emprego, Juro e da Moeda, onde defendeu o gasto público, não apenas como uma ferramenta para a saída de grandes crises, mas como um instrumento do Estado para conduzir a atividade econômica ao pleno emprego. E pleno emprego os brasileiros desconhecem há bastante tempo. Basta verificar o imenso volume de desempregados que arrastamos ano a ano. Nesse sentido, as leituras que mencionam gastos excepcionais e transitórios são uma espécie de keynesianismo de ocasião, ao passo que o próprio autor se dedicou a escrever uma teoria geral.
Para além dessa deformação teórica de Keynes, caberia então nos perguntarmos: qual é o critério para definir quando o Estado deve ou não gastar? Estamos de acordo que esse seja um dos momentos mais pungentes para ampliação dos gastos, mas o desemprego de 13 milhões de pessoas já não o seria? Não seria possível usar essa força de trabalho, com recursos públicos, para resolver problemas crônicos da sociedade brasileira, como a ausência de saneamento básico, de estradas adequadas, de escolas, de serviços de saúde? A morte de pessoas só nos choca quando ocorre em atacado? É necessária uma pandemia para que se decida gastar?
É preciso compreender que nunca estivemos, do ponto de vista econômico, num estado de normalidade equilibrada, apesar do momento atual ser particularmente incomum. Sempre haverá formas de empregar recursos ociosos para melhorar o bem-estar de todos, e o Estado é a institucionalidade dotada de capacidades para pensar e articular essas ações. Isso nunca foi tão claro. Quando reina a incerteza sobre o futuro, todos voltam-se para a centralidade do Estado: o SUS se afirma como indispensável, as autoridades são ouvidas – e ganham espaço nas mídias – e todos esperam respostas céleres dos responsáveis pelas funções públicas. Toleramos severas interferências em nossas vidas e negócios, compreendemos a necessidade de tais restrições, e auxiliamos na fiscalização e no cumprimento delas. Somos tomados por um instinto de coletividade, tipicamente presente no ser humano, mas por vezes adormecido.
Para nossa infelicidade, no entanto, é possível que essas lições oferecidas pela emergência de um vírus se dissipem em pouco espaço de tempo. Foi o que ocorreu após a crise de 2008, quando o Estado foi chamado a resgatar a economia e as empresas privadas, mas logo em seguida descredibilizado como uma jamanta ineficiente (2).
Seria mais prudente aceitar o papel de protagonismo do Estado na articulação e planejamento econômico. O Estado não concorre com a economia privada. Ele a complementa e alimenta. Mas também impõe limites, para que não sejam praticados abusos. Parece curioso que nesse momento os abusos nos preços do álcool em gel sejam tão ferozmente combatidos, mas que os preços do petróleo, definidos por um cartel árabe, sejam interpretados como preços de mercado.
Fato é que a Era da Catástrofe (como Hobsbawn se refere ao período de 1914 a 1945, que compreende as duas grandes guerras e a crise de 1929), gerou um período posterior de três décadas de prosperidade – a Era de Ouro do capitalismo – guiado pela condução estatal e um senso agudo de coletividade. É possível pensar a coletividade em meio ao capitalismo. Ao contrário, como diria Keynes, a exacerbação do individualismo, ou do laissez-faire, é o caminho para a ruína do capitalismo. Essa é uma lição que toda crise nos ensina, mas que insistimos teimosamente em esquecer.
(1) Armínio Fraga é um exemplo de economista liberal que passou a defender os gastos públicos anticrise (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/arminio-fraga/2020/03/covid-19-primeiras-licoes-desafios-e-propostas.shtml).
(2) Henrique Meirelles é taxativo ao afirmar: “É uma despesa que tem começo, meio e fim”, diz ainda, em referência aos gastos emergenciais contra a atual crise. “Acabou a pandemia, acabou isso, nós voltamos à normalidade, pode voltar à austeridade fiscal”, ressaltou. (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52212033).
__________________________________________
Autores: Patrick Fontaine Reis de Araujo e Fernando Batista Pereira
Professores do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA)