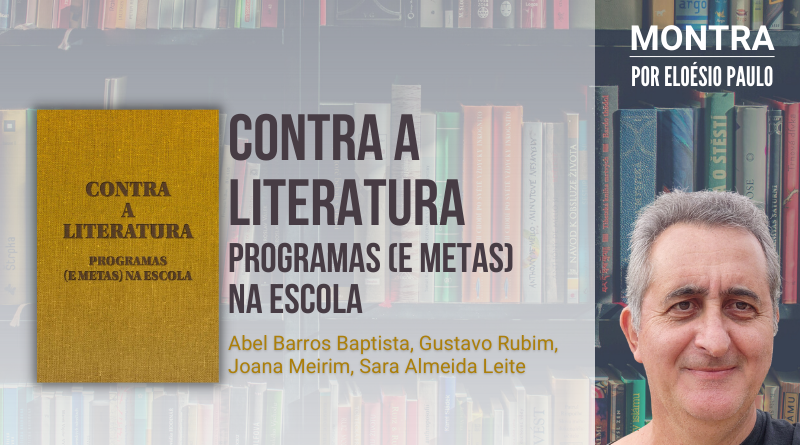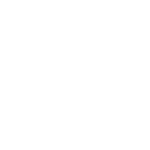Primeiro dado importante: a publicação é gratuita e pode ser baixada em https://ielt.fcsh.unl.pt/contra-a-literatura/. O livro Contra a literatura (2021) resulta de um evento promovido em 2017, na Universidade Nova de Lisboa, para discutir as possibilidades do ensino de literatura à luz das recentes reformas no ensino básico português, um daqueles rearranjos periódicos que a burocracia estatal acha de fazer por imaginar-se capaz de determinar soluções para os problemas da educação. Os autores dos textos são, em sua maioria, professores do que em Portugal equivale ao nosso ensino fundamental e médio – vários deles, mestres e doutores, ocorrência ainda não muito comum por aqui.
É claro que não se deve perder de vista essa e outras diferenças, mas muitas das reflexões feitas nesses curtos artigos são úteis para se pensar o ensino de literatura no Brasil. Nossos problemas são muito mais sérios, mas muitos deles não deixam de coincidir com aqueles enfrentados por um sistema escolar que luta para emparelhar-se a seus congêneres, alguns dos quais tidos como os melhores do mundo. Mesmo sendo crescente o número dos que, também na Europa, consideram o ensino um problema de “capital humano”, ainda sobrevive naquele continente razoável lastro dos ideais civilizatórios inaugurados pela Revolução Francesa.
O que se costuma chamar “crise do ensino de literatura”, por sinal, é uma crise do paradigma civilizatório, posto em questão por toda a infindável série de desdobramentos da industrialização, que nas últimas décadas, tendo atingido quase todo o planeta, colocou para todos os países a necessidade de enfrentar o dilema do desenvolvimento econômico: ou o freamos de algum modo, ou destruímos a Terra.
Pergunta-se para que serve a literatura, e também por isso o título do livro leva (presume-se) aquele “contra”. É preciso colocar-se, dialeticamente, na posição dos inimigos da arte das palavras para imaginar um modo de justificá-la que não seja o tradicional. No rastro do Iluminismo, cresceu até meados do século XX a ideia de que o mundo precisava de pessoas esclarecidas; era uma necessidade do próprio capitalismo, que demandava indivíduos verbalmente proficientes para continuar desenvolvendo-se. Hoje, quando já se aventa a substituição do ser humano por robôs, entra em questão tudo aquilo que era capaz de promover a ascensão das pessoas ao que foi considerado o ser humano ideal: racional, lúcido, responsável, ético e sensível. Uma coletividade feita deles seria, pensava-se, a concretização do humanismo integral renascentista.
A decadência daquela noção de humanidade, discutida pela Escola de Frankfurt, ficou bem resumida no título do livro de Günter Anders, A obsolescência do homem (1956). Um dos frankfurtianos, Theodor Adorno, em nota do seu Minima moralia (1951), já havia advertido que poucos seres humanos mereciam ser chamados de indivíduos, tamanho o efeito da massificação promovida pelos veículos de difusão – hipertrofiados hoje no mostrengo desorientador da Internet. É em face disso que se precisa discutir a necessidade da literatura e da arte em geral (exceto aquelas que desde o nascedouro se subordinam ao imperativo econômico ditador da obediência à lógica dos algoritmos).
A literatura humaniza, na medida em que confronta o indivíduo com as possibilidades da vida além do tempo e do espaço: a quase infinita variedade de destinos e dos papéis que podem ser assumidos por um ser humano, variedade, no entanto, esquematizável em duas dúzias de arquétipos já conhecidos desde as primeiras civilizações. Ignorar essas possibilidades é ignorar o que foi o humano até três ou quatro décadas atrás – extensão temporal de pequenez quase desprezível quando se considera a história de nossa espécie, já nem diremos nada sobre a história do planeta ou do Universo.
Uma desvantagem de Contra a literatura é passar ao largo dessas questões mais amplas. Em compensação, aborda aspectos práticos do cotidiano de professores e alunos que repercutem grandemente na possibilidade ou impossibilidade de ainda se concretizar uma humanização que pode até interessar a muita gente, mas não interessa aos que realmente detêm o poder político e econômico em escala global: hoje em dia, a maioria das tarefas numa sociedade se resumem a rotinas para as quais não se necessita realmente de alguém humano; em breve, será muito mais prático e barato colocar autômatos fazendo tudo, até mesmo tarefas intelectuais que não dependam de sensibilidade e julgamento ético. Então, a pergunta será (já a devíamos estar fazendo há meio século) o que fazer com cinco ou seis bilhões de corpos humanos sem utilidade para a tautologia da multiplicação capitalista.
A proposta do livro é bem clara: analisar se o novo programa oficial de “ensino literário”, cheio de boas intenções administrativo-pedagógicas, afinal não resultaria em ações contrárias à verdadeira razão de se incluir entre as disciplinas escolares a leitura de textos literários. Tal razão é a formação de leitores, que costumam ser pessoas interessadas em continuar sendo gente, mesmo havendo tantas forças se opondo a isso. Os autores não chegam (nem poderiam) a uma conclusão uníssona, mas suas exposições podem ao menos iluminar iniciativas semelhantes.
Daniel Joana, por exemplo, toca a questão civilizatória ao se colocar “Contra o professor de papel”. Ele lembra, e isso é muito importante, que por definição o leitor é um cidadão; então, fica sugerido que formar leitores já significa uma contribuição indispensável para o desenvolvimento da cidadania – talvez até maior do que aquelas que se baseiam num conceito de cidadania balizado por concepções ideológico-partidárias. Tomando outro rumo, Sofia Paixão insiste várias vezes na expressão “literacia literária” sem deixar claro a que se refere.
No conjunto, os artigos empreendem uma discussão transversal a vários aspectos importantes do ensino de literatura: o status do objeto literário em relação a disciplinas de parentesco mais próximo com o método científico; a tutela ao trabalho dos professores que representa a excessiva minúcia das instruções normativas oficiais; a anteposição da teoria e dos enquadramentos críticos-históricos ao conhecimento direto do próprio texto literário; o dirigismo prévio que os modelos de avaliação – caso idêntico ao do nosso ENEM, que inicialmente se propunha eliminar o dirigismo do vestibular – exercem sobre as práticas didáticas. Três desses artigos, assinados, respectivamente, por Ana Santiago, Rui Mateus e Alexandre Dias Pinto, discutem o problema dos livros didáticos, não esquecendo a mania de esquartejar textos para que caibam numa aula nem a formatação prévia dos conteúdos pelo interesse mercadológico das grandes editoras.
Dias Pinto, partindo de metáfora baseada no título de um conto de Jorge Luis Borges, “O jardim dos caminhos que se bifurcam”, faz uma interessante proposta de aplicação das metas propostas pelo documento oficial, não deixando de ressalvar, a cada passo, que as interpretações não podem ser engessadas pelo gabarito, mas também precisam ser “autorizadas” pelo texto. Sua conclusão, que até pode remeter a outro conto de Borges, “A Biblioteca de Babel”, aponta no sentido da necessidade constante de o professor, buscando dominar um repertório que lhe permita escapar aos muitos óbvios possíveis em aulas de literatura, empenhar-se na ampliação constante de seu próprio repertório de autores e textos.
Mais esclarecedor ainda é o texto de Sara de Almeida Leite, “E agora como se faz uma aula?”, que ficou para o final. É um primor de lucidez, consistindo na proposição de respostas claras e diretas às quatro perguntas que orientaram sua seção no colóquio Contra a literatura: 1) É possível uma aula de literatura? 2) Qual a margem de decisão/escolha do professor, com este (s) programa (s)? As TICs podem ter ou têm lugar nestas aulas? 4) Como se articulam oralidade, escrita e leitura literária?
Merece ser transcrita a sua resposta à segunda questão:
Alguns professores justificam a sua submissão às linhas orientadoras dos programas, que
impõem a transmissão de leituras pré-fabricadas, com base no argumento de que é
imperioso preparar os alunos para as provas finais, em que eles têm forçosamente de
demonstrar conhecimentos adquiridos sobre as obras estudadas. Porém, este motivo não
justifica continuar a basear o ensino de literatura no estudo de leituras prévias dos textos,
justifica, sim, que sejam repensados os objetivos, as metodologias e os instrumentos de
avaliação. Não é legítimo continuar a alegar que as leituras pessoais dos alunos são muito
difíceis de avaliar, quando existe uma considerável bibliografia (…)
Recordemos mais uma vez o óbvio: nem sempre os problemas do ensino de literatura são os mesmos para um professor português e outro brasileiro. Mas, para aqueles que não conheciam até agora nenhum ponto de partida para refletir sobre isso, Contra a literatura significa, desde já, uma desculpa de menos.
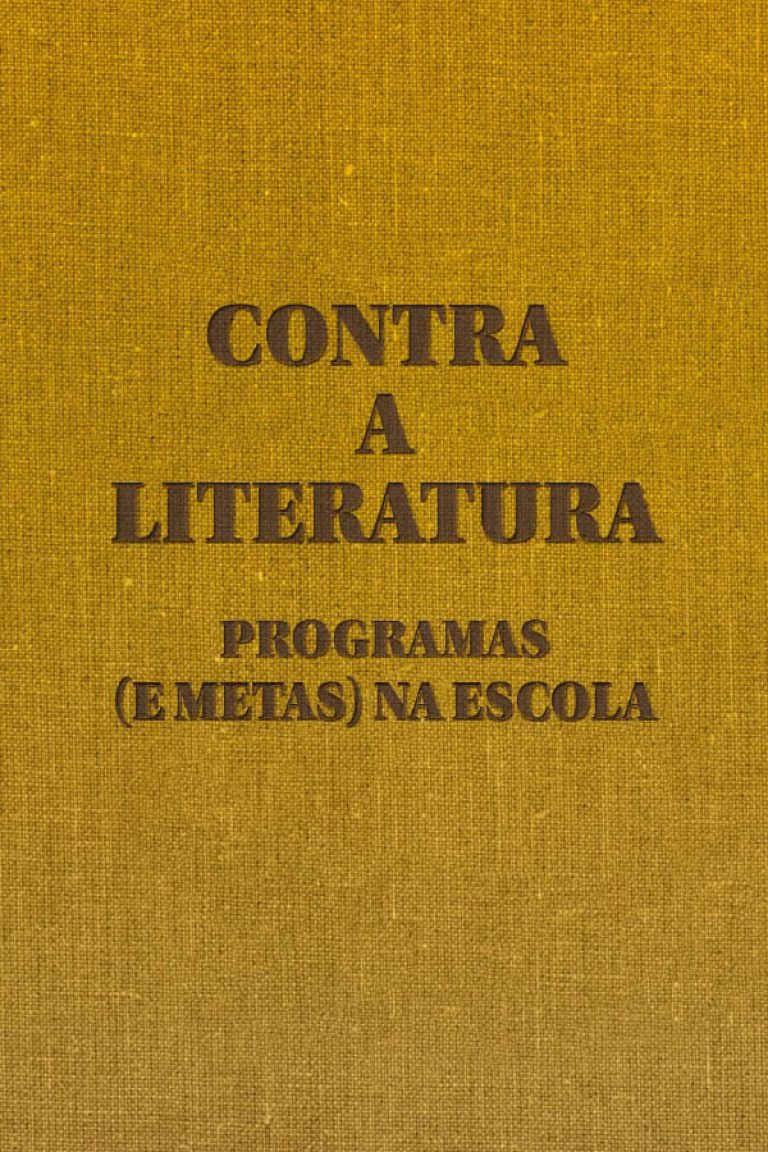
Título: Contra a Literatura – Programas (e Metas) na Escola
Organizadores: Abel Barros Baptista, Gustavo Rubim, Joana Meirim, Sara Almeida Leite
Gênero: Ensino da Literatura
Ano da edição: 2021
ISBN: 978-989-8968-09-8
Selo: ELT, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).