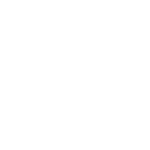Waldir Severiano de Medeiros Júnior¹
Em se tratando de Kelsen, dois fatos assaz pronunciados em seus estudos sobre a justiça precisam ser reconhecidos de plano, a saber: (a) o fato de que Kelsen não tem uma teoria da justiça, mas “apenas” uma opinião crítica sobre a justiça; e (b) o fato de, conforme o seu modo de pensar, a democracia não ser somente mais um dispositivo político dentre outros, mas uma mentalidade ética mais elementar, qual seja, aquela mentalidade em grau de solver as diferenças, a exemplo das diferenças em matéria de justiça, sobretudo para aqueles que, ao menos como sujeitos do conhecimento, não se concebem como desiguais, mas como iguais.
Em que pese seja possível postar-se perante o problema da justiça de forma razoavelmente não-ideológica (Kelsen, atente-se, não parece acreditar no fatalismo da ideologia, pensando ser possível, se não eliminá-la, administrá-la), não é possível, no entender de Kelsen, produzir um conhecimento efetivamente positivo sobre a justiça, apenas um negativo, visto que, ao fim e ao cabo, a justiça revela-se como um fenômeno conceitualmente indeterminável, sobre o qual só o que se pode dizer é que há uma miríade de juízos, mas nenhum dado significativo de objetividade concreta, nenhuma grande constante generalizável, nenhuma evidente característica ineliminável (KELSEN, 2001a, p. 51- 52).
Na verdade, consoante a observação perspicaz de Kelsen, se há um traço recorrente nas cogitações sobre a justiça é o seu uso ideológico, considerando-se que, por não terem um conteúdo objetivo, transmudam-se facilmente em fórmulas vazias, que, como tais, terminam por prestar-se perfeitamente ao revestimento do conteúdo ideológico de alguma normatividade prévia (posta ou idealizada) (KELSEN, 2001b, p. 14 e ss.).
Portanto, se é certo que os estudos de Kelsen sobre o problema da justiça não o levaram a uma elaboração teórica propriamente dita, no sentido de conhecimento objetivo positivo (indicativo não apenas do que o objeto sob exame não é, mas também daquilo que ele é), não é menos certo que tais estudos levaram-no a um posicionamento (jus)filosófico crítico, que tanto põe a descoberto a indeterminabilidade teórico-conceitual da justiça (a ilusão da justiça), quanto denuncia o caráter ou papel ideológico dos critérios, fórmulas, normas e doutrinas em torno do valor da justiça (KELSEN, 2001a, p. 41-51).
Como quer que seja – e este é o ponto para o qual todo o discurso kelseniano sobre a justiça converge –, também se sabe que, em que pese a indeterminação teórica do assunto, a vida prática urge, e alguma decisão sobre o que seja a justiça a sociedade precisa tomar.
E, para tomar essa decisão em matéria de justiça ou felicidade social (como também se poderia chamar a justiça) (KELSEN, 1995, p. 288 e ss.), não há, no entender do jusfilósofo vienense, senão estas duas vias: (a) a via do relativismo democrático, já mesmo por força, em grande medida, do reconhecimento da natureza relativa dos posicionamentos conflitantes; ou (b) a via do absolutismo autocrático, caso em que o grupo mais forte, simplesmente porque mais forte, termina por impor o seu ponto de vista (que, conforme já dito por alguém, é senão a vista de um ponto) sobre os demais.
No primeiro caso, promove-se um compromisso entre os interesses conflitantes, no segundo satisfaz-se um dos interesses à custa dos outros (KELSEN, 2001b, p. 23).
Como ser humano, cidadão, profissional do direito e educador, Kelsen, informado (o que não significa predeterminado) pelo Kelsen cientista (cujos estudos desmistificam as ideologias da justiça em prol de uma concepção relativista), parece dar mostras robustas de possuir todos os elementos para preferir a via democrática, ou, mais especificamente, para vislumbrar na democracia a prática ética mais favorável à consecução da felicidade pessoal do ser humano Kelsen, do ideal de sociedade do cidadão Kelsen e dos interesses de classe do profissional do direito e da educação Kelsen.
Com efeito, recorde-se, por exemplo, que Kelsen (2012) foi um judeu testemunhador da banalidade do mal colocada em curso pelo nazismo, inclusive sofrendo perseguições e precisando se exilar (em Colônia em 1930, em Genebra em 1933 e, finalmente, nos Estados Unidos em 1940). Foi professor-pesquisador na Viena Vermelha (o que dispensa comentários). Foi assessor jurídico, no período de 1919 e 1920, de ninguém menos que o chanceler social-democrata Karl Renner. E foi um dos arquitetos da modelar Constituição austríaca de 1920, atuando, ato contínuo, por quase dez anos, como juiz da Corte Constitucional da Áustria, portanto, como juiz de um tipo de Corte cujo exercício jurisdicional essencialmente voltado ao controle de constitucionalidade das leis e atos normativos infraconstitucionais, historicamente surge e desenvolve-se, como sabido, nos quadros de Estados tidos como democráticos, notadamente nos EUA (na forma de controle de constitucionalidade difuso) e na Áustria de Kelsen (na forma de controle de constitucionalidade concentrado num órgão especial, a Corte).
Dessarte, não é demais bater nesta tecla: Kelsen não firma sua posição identificadora de justiça e democracia como uma pura e simples consequência lógica de suas reflexões sobre o fenômeno da justiça, mas, também (e quiçá principalmente), porque sua vida, à toda evidência, porta as credenciais indicativas da escolha, e da responsabilidade moral que lhe vai ligada, do ideal democrático de justiça em detrimento do autocrático.
De sorte que, se, no assunto em causa, há semelhança entre o Kelsen cientista e o Kelsen não-cientista não pode ser apenas (a) por uma questão de consequência entre o Kelsen cientista que informa, isto é, que oferece a moldura, e o Kelsen não-cientista que prefere, decide e se responsabiliza moralmente, isto é, que preenche e define o quadro (para empregar, mutatis mutandis, uma metáfora do próprio Kelsen), mas, outrossim, (b) por uma questão de coincidência, analogia ou correlação entre os atos de cognição e de vontade de Kelsen, ou, antes, (c) porque, no indivíduo Kelsen, a vontade de conhecimento (o tipo científico) tende a preponderar sobre a vontade de poder/dominar (o tipo político) (ORDÓÑEZ, 1989).
Seja como for, à parte essa ressalva quanto ao peso dos elementos subjetivos (ou, se se quiser, do “mundo da vida”) na tomada de decisão, a qual, como Kelsen não ignora, nunca se faz por força exclusivamente de ponderações racionais, estas, na realidade, secundando a subjetividade, fornecendo-lhe explicações e justificações (racionalizações) – o que, para os efeitos do texto em tela, significa: por mais informado que estivesse por sua razão crítica a respeito do relativismo em matéria de justiça, fatores outros, de ordem mais estritamente pessoal, influíram, como não poderiam deixar de influir, na escolha final de Kelsen do seu ideal de justiça –; à parte essa ressalva, dizíamos, fato é que Kelsen, pelo o que tudo leva a acreditar, só pode haver sido um partidário da resolução democrática da justiça, ou, como preferimos, do ideal da justiça como democracia, cujo maior mérito, já se vê, reside na constatação de que, se a justiça não é autoevidente (para não dizer incognoscível), então qualquer posição sobre a justiça, caso queira se fazer reconhecida e positiva de um jeito outro que não o da imposição autoritária, precisará, para tal, submeter-se à dialética democrática.
A ponto de se até mesmo alguém eventualmente lograr obter alguma verdade sobre a justiça, ela (a verdade sobre a justiça) só poderá ser eticamente convalidada se escolhida democraticamente, isto é, se positivada não pela força, mas por uma escolha resultante de uma prática ética feita de deliberação, persuasão, convencimento e compromisso – que significa “tolerância recíproca”, “compensação das antíteses políticas”, “caminho intermediário entre interesses opostos”, “resultante das forças sociais antagônicas” (KELSEN, 1993, p. 129).
Assim, Kelsen (1993, p. 185-187) como que contorna o problema da teoria da justiça, deixando a cargo do método democrático, devido às virtudes e virtualidades racionais a ele conaturais, a decisão o menos irracional, incientífica, arbitrária e autoritária possível sobre o que seja a justiça.
É como se Kelsen dissesse: “Se esta ou aquela teoria sobre a justiça é verdadeira e pretende ser positivada, ótimo, que os seus expoentes se submetam ao processo democrático, digladiem contra a concorrência e ao término persuadam e convençam a maioria de sua verdade”. Democracia é discussão (KELSEN, 1993, p. 183).
O ônus da positivação da posição, na perspectiva democrática kelseniana, é, independentemente do valor epistêmico da posição defendida, do seu partidário, ao qual, sob pena de incorrer em injustiça (autoritarismo), cabe a tarefa da persuasão com vistas a angariar o apoio da maioria para a sua causa.
Mas e se a posição advogada na arena democrática é dogmática, autoritária e intolerante? E se os seus partidários jogam sujo, apelando, por exemplo, para a fabricação e difusão de informações falsas, bem como para acusações infundadas aos adversários, ao mesmo tempo em que acenam aprovadora e saudosistamente a regimes, símbolos e períodos autoritários, a par de referências à “vontade de deus”? Sua participação na dialética democrática não deveria ser impedida, na medida em que conspiram contra a própria democracia? O livre curso dos mesmos não conduziria, mais cedo ou mais tarde, ao risco de autossabotamento da democracia? Enfim, como a democracia, que supõe a tolerância, deveria lidar com os intolerantes?
Para Kelsen, essa é a prova de fogo da democracia, que somente seria digna desse nome se não precisasse se valer de meios antidemocráticos e autoritários, a exemplo da censura, para se garantir. Noutros termos, é em face do desafio da intolerância que se poderia melhor mensurar a solidez, a força, a grandeza e a maturidade de uma democracia, que seria tanto mais democrática quanto menos precisasse lançar mão de recursos antidemocráticos no trato com os intolerantes, os quais, numa democracia consistente, não haveria perigo que existissem, visto que não teriam campo para prosperarem.
Nesta sede, não vem ao caso discutir as condições de possibilidade de uma tal democracia kelseniana, a começar pelo nível de educação (KELSEN, 1993, p. 97), consciência, emancipação e empoderamento (inclusive material) que os cidadãos – os protagonistas políticos por excelência da democracia – deveriam possuir para que ela pudesse se dar ao luxo magnânimo de não se preocupar com as investidas antidemocráticas (e.g. obscurantismo religioso, violência nazifascista, liberalismo predatório, consumismo alienante, manipulação midiática etc. ).
Basta-nos, nos limites do presente texto, deixar estabelecido que a democracia é a estratégia de Kelsen ante o problema da justiça.
À vista do exposto, observa-se conclusivamente que, segundo Kelsen, embora não seja possível uma teoria propriamente dita da justiça, pode-se, pelo menos, lidar de forma crítica com o problema da justiça, e então tomar consciência, dentre outras coisas, da natureza ideológica das pretensas teorias da justiça.
O que, força convir, não é pouco.
Quando mais não seja porque tal tomada de consciência tem o poder de nos tornar menos vulneráveis às ilusões da justiça, ao mesmo tempo que, explicitando a relatividade das concepções de justiça, assinala-nos a ideia de justiça mais racionalmente justificável: a justiça como democracia.
Afinal, se não existe a justiça, mas justiças, se as justiças são fundamentalmente subjetivas e parciais (pontos de vista), e se, portanto, a questão da justiça é irremediavelmente relativa, o caminho para compor as opiniões diferentes sobre o justo, afora o recurso autoritário à violência (reacionária ou revolucionária), tende a ser a democracia (SAN MARTÍN, 2008), cuja concretização, aliás, como não parece escapar ao mestre de Viena, dá-se no devir histórico-processual (em Kelsen indene de qualquer metafísica historicista, evolucionista, providencialista e quejandos), como tal comportando configurações e graus diversos.
Sob esse aspecto, a democracia brasileira, por exemplo, embora crivada de estados de exceção (PILATTI et alia, 2017), apresentar-se-ia como uma democracia in fieri, em processo de construção.
Naturalmente, Kelsen (1993) sabe que fatores pessoais, como a personalidade, a educação, o meio e os interesses de classe, para ficar nos mais evidentes, influenciam pesadamente a escolha individual do ideal de justiça.
De todo modo, assentada para Kelsen, por razões biográficas e crítico-filosóficas, a relatividade da justiça, compreende-se o porquê de a justiça como democracia, ainda mais ante o crescimento exponencial da complexidade e pluralidade das sociedades contemporâneas, tender a figurar-lhe, se não como a única alternativa, certamente como a mais razoável – uma outra alternativa, quiçá até mais coerente com o relativismo, seria, por exemplo, a anarquia dos sujeitos do poder plenamente iguais, horizontais… caso a natureza humana (que, sim, existe) (PINKER, 2004) fosse outra e então fosse deveras factível a total eliminação ou o desaparecimento do vertical “domínio do homem pelo homem” (PAZZOLO, 2011, p. 311), o qual, como cediço, na democracia subsiste, conquanto em medidas variadas, nos limites do Estado de direito, e começa por justificar-se com o instituto das eleições periódicas dos governantes pelos governados (CANOTILHO, 2003, p. 243 e ss.).
Inclusive, como já tivemos ensejo de dizer em outras ocasiões, não seria de todo forçado encerrar ventilando que “anarquista na vontade e democrata na razão” bem poderia haver sido o mote ético-político de um relativista do quilate de Kelsen.
Referências Bibliográficas
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra/Portugal: Edições Almedina, 2003.
KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti; Jeffesrson Luiz Camargo; Marcelo Brandão Cipolla; e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
KELSEN, Hans. A justiça e o direito natural. Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Livraria Almedina, 2001a.
KELSEN, Hans. O que é justiça? In: O que é justiça? A justiça, o direito e a política no espelho da ciência. Trad. Luís Carlos Borges. 2 ed. São Paulo, 2001b, p. 1-25.
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. 3 ed. Trad. Gabriel Nogueira Dias; e José Ignácio Coelho Mendes Neto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
ORDÓÑEZ, Ulises Schmill. El concepto del derecho en las teorias de Weber y de Kelsen. In: CORREAS, Óscar (Org.). El otro Kelsen. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 163-193.
PAZZOLO, Suzanna. Onde está o direito? Pluralismos jurídicos e conceitos de direito: Reflexões segundo o pensamento kelseniano. In: MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; SANTOS NETO, Arnaldo Bastos (Orgs.). Contra o Absoluto: Perspectivas críticas, políticas e filosóficas da obra de Hans Kelsen. Curitiba: Juruá, 2001, p. 297-320.
PILATTI, Adriano; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa Matos; e CORRÊA, Murilo Duarte (Org). O estado de exceção e as formas jurídicas. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2017.
PINKER, Steven. Tábula rasa: A negação contemporânea da natureza humana. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
SAN MARTÍN, Jaime Araos. Relativismo, tolerancia y democracia en H. Kelsen. In: Veritas, v. III, n. 19, 2008, p. 253-269.
*Artigo publicado na íntegra na Revista Pensamiento Penal – publicação periódica da Asociación Pensamiento Penal, uma entidade civil, sem fins lucrativos, com presença em toda América Latina – em 21/02/2024, neste link.
 Waldir Severiano de Medeiros Júnior é professor substituto de disciplinas jurídicas no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UNIFAL-MG. Formado em Direito e doutor em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito da UFMG, o docente coordena o Grupo de Estudos “Qual Direito? Estudos Sobre Direito e Relações de Poder”. Tem experiência nas áreas do Direito e da Filosofia, com ênfase em Filosofia do Direito, Direito Constitucional e Direito Penal.
Waldir Severiano de Medeiros Júnior é professor substituto de disciplinas jurídicas no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UNIFAL-MG. Formado em Direito e doutor em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito da UFMG, o docente coordena o Grupo de Estudos “Qual Direito? Estudos Sobre Direito e Relações de Poder”. Tem experiência nas áreas do Direito e da Filosofia, com ênfase em Filosofia do Direito, Direito Constitucional e Direito Penal.