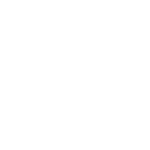Como o Elogio da Loucura (1511), uma das obras mais representativas do pensamento humanista, o famoso panfleto de Paul Lafargue, mestiço nascido em Cuba que se tornou estrela do movimento socialista europeu, tende ao exagero satírico. Outro mestre seu deve ter sido o irlandês Jonathan Swift, que, mais de dois séculos depois da obra de Erasmo de Roterdã, publicou a Modesta proposta (1729), expondo a sardônica sugestão de os operários ingleses comessem os próprios filhos a fim de reduzir a fome e a miséria, os verdadeiros motores centrais da Revolução Industrial.
Filho de tal tradição polêmica e provocativa, Lafargue precisa ser lido com a devida distância crítica, mas seu livrinho O direito à preguiça (1880), além de leitura muito agradável, continua sendo espantosamente atual. No frigir dos ovos, o genro de Karl Marx (com Engels de padrinho), cujo elogio fúnebre foi feito por ninguém menos que Lênin, propunha uma jornada de trabalho de três horas para os operários europeus. Claro que soa como música aos ouvidos de muita gente, mas a conta é paradoxal na mesma medida de outras passagens do texto; não parece possível considerá-la senão como exagero dramático destinado a provocar choque, como uma espécie de caricatura teórica.
Até o suicídio de Lafargue, aos 70 anos e em “parceria” com Laura Marx, sua companheira de toda a vida, foi desconcertante. O motivo não era nenhuma desilusão, diz ele em seu testamento, e sim uma decisão tomada ainda no auge da carreira de intelectual revolucionário: abreviar a própria vida quando não mais se considerasse útil, tivesse ficado de, entre outras coisas, celebrar a inevitável vitória da sociedade sem classes. Para o bem e para o mal, Lafargue morreu enganado a respeito da tal inevitabilidade, que seu sogro havia erigido em profecia amparada na concepção hegeliana de História; não se deve, por sinal, desconsiderar que muitos suicídios se tenham baseado em enganos, como, aliás, muitas vidas alongadas.
O direito à preguiça não passa de magras 30 e poucas páginas, e começa com uma definição da moral capitalista que continua, mais de um século e meio depois, funcional como explicação de como e por que a burguesia se converteu numa espécie de nova aristocracia. Vale a pena citá-la:
Enquanto a burguesia lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero, ela defendia o livre-
-arbítrio e o ateísmo; mas, vencedora, mudou de tom e de atitude e, hoje, pretende escorar
na religião sua supremacia econômica e política. Nos séculos XV e XVI, a burguesia
havia prazerosamente retomado a tradição pagã e glorificava a carne e suas paixões,
censuradas pelo cristianismo; atualmente, repleta de bens e prazeres, renega os
ensinamentos de seus pensadores, os Rabelais, os Diderot, e prega a abstinência aos
assalariados. A moral capitalista, triste paródia da moral cristã, rodeia de anátemas a
carne do trabalhador; seu ideal é reduzir o produtor ao mínimo de necessidades, suprimir
suas alegrias e paixões e condená-lo ao papel de máquina de gerar trabalho, sem trégua
e sem piedade.
Nessa linha segue a argumentação lafarguiana, apoiada nos clássicos e na Bíblia, de onde parece ter tirado seu tom de inconformismo profético. Essas fontes também transparecem no uso da linguagem poética e em ironias certeiras, por via das quais o autor chega a mostrar como, para muita gente, o direito do trabalhador acabou reduzido ao “direito” de trabalhar. Até parece que seu propósito era mostrar a viabilidade de expressar-se com um texto mínimo em extensão e máximo em elegância. Grande lição até para escritores de literatura “pura”.
A ideologia da Revolução Industrial, demonstra Lafargue, conduzia ao absurdo de transformar a guerra em um dos negócios mais lucrativos. Numa visada que surpreenderá o leitor atual, ele já atribuía à lógica do capitalismo a invenção de necessidades de consumo e a obsolescência programada dos produtos. Em sua opinião, os economistas comportavam-se como “aves de mau agouro” ao defenderem um sistema tão intrinsecamente sem futuro. E, como ninguém é perfeito, o visionário agitador cometeu o grande equívoco de considerar a máquina “o redentor da humanidade”.
Assim como o Inferno de Dante, os castigos acarretados pela superexploração do trabalho mencionados no livro têm mais cores do que as do paraíso revolucionário imaginado. Quando se trata de dizer como seria possível os operários trabalharem apenas três horas por dia, a argumentação de Lafargue já soa menos convincente. Mas ninguém deixaria de ler a Divina comédia porque o Paradiso é meio chato; e, pois, O direito à preguiça continua sendo muito recomendável a leitores capazes de pensar dialeticamente. Com certeza, ainda é mais útil do que seu sucedâneo pós-moderno, aquele Domenico de Masi que fez grande sucesso com um livro chamado O ócio criativo (1995), cujo flerte com a autoajuda é meio escandaloso para que possa ser tomado a sério.
Enquanto ainda há, hoje em dia, quem reivindique o “direito ao trabalho”, enquanto os apologetas besteirais de sempre apregoam a “inteligência” artificial como salvação da economia de mercado, enquanto os filhotes dos velhos falsos profetas preveem um “novo” tempo em que os seres humanos – quais? – estarão cada dia mais libertados de seus encargos laborais, o que quase ninguém percebe é que o tempo livre agora é uma das principais mercadorias, exponencializando-se a velha máxima inglesa de que time is money. Afinal, desde a metade do século XX a indústria de bens simbólicos só fez agigantar-se, ao passo que várias outras modalidades de produção desapareceram por completo, e ainda outras desaparecem e desaparecerão. Também porque, na mesma toada em um humanismo cegamente bem-intencionado impede jovens de ganhar uns trocados depois da aula, liberando-os para ficar a serviço do tráfico de drogas, cada vez mais cedo as crianças se tornam operários sonâmbulos de um imenso mercado planetário que passa por essa praga egípcia chamada smartphone.
O livrinho de Lafargue pode ajudar muito no entendimento da velha e esquecida razão que se esconde por trás de alguns dos mais intrigantes paradoxos contemporâneos.
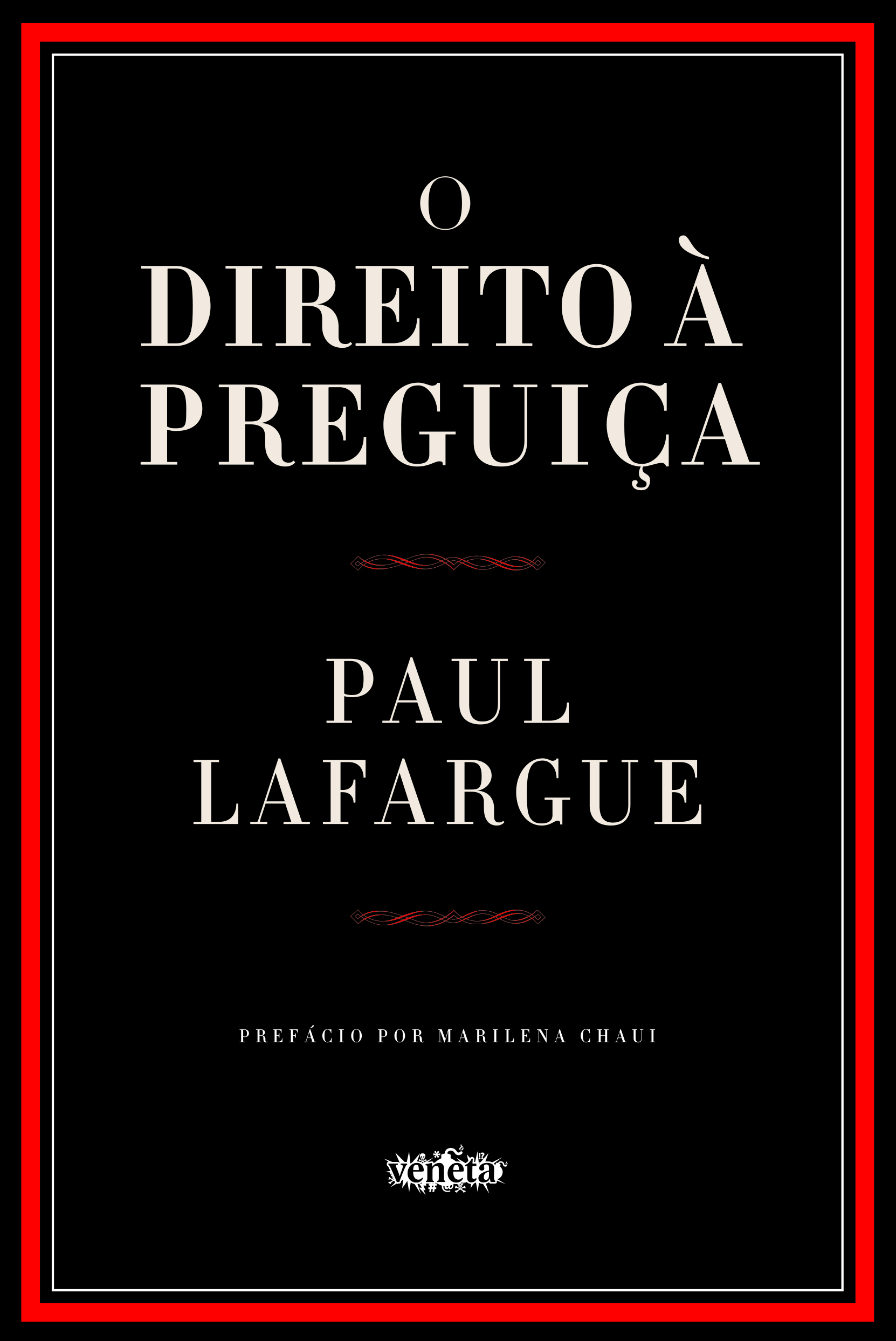
Título: O Direito à Preguiça
Autor: Paulo Lefargue
Gênero: Política | Ciências Sociais
Ano da edição: 2022
ISBN-10: 8595711798
ISBN-13: 978-8595711792
Selo: Veneta

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).