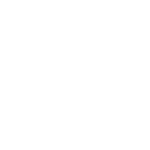Segunda-feira, 14 de setembro de 2020
O Consenso de Washington[1] vêm desde os anos 1990 lastreando a euforia dos processos de abertura das economias ao redor do mundo. Tratou-se do auge de afirmação da organização individualista das sociedades que – aliada a um pungente desenvolvimento das tecnologias de comunicação – seria o motor para que todos os países se integrassem numa nova economia globalizada e com crescimento acelerado. O manual para a promoção do desenvolvimento estava definido, bastava seguir a cartilha.
Ainda que os esforços de liberalização tenham se generalizado, o que se vê é que o capitalismo neoliberal tem patinando mundialmente, e produzido profundas desigualdades, tanto inter quanto intra-países. O final da década de 1990 foi de enorme instabilidade cambial na periferia, e nos anos 2000 a recorrência das crises alcançou o centro do capitalismo: os EUA, com seu clímax na crise do Subprime de 2008. A década de 2010 foi de crises e baixas taxas de crescimento tanto no centro quanto na periferia, o que parece ser a nova tônica do comportamento da economia mundial, com a evidente exceção da economia chinesa.
O curioso é que, diante das evidências da realidade empírica, o movimento das ideias dos últimos anos no Brasil tenha pendido para o aprofundamento das reformas neoliberais. Por um lado, as economias que mais crescem no mundo estão articuladas ao eixo chinês, onde a coordenação centralizada dos investimentos pelo Estado prevalece. Por outro, as sociedades com maiores níveis de desenvolvimento humano são as sociais democracias europeias, onde tradicionalmente a coletividade é o centro das estratégias de desenvolvimento.
A crise pandêmica trouxe a esperança de que a necessidade social do Estado – tanto na organização do combate ao vírus, quanto para amparar milhões de pessoas empurradas ao desemprego pelo colapso da economia – pudesse inverter o movimento pendular das ideias. Ainda antes do coronavírus, o persistente aumento da desigualdade nas economias centrais já sinalizava os limites da política econômica neoliberal, seja para entregar crescimento econômico, seja para promover justiça social, e o próprio FMI passou a tolerar e recomendar posturas mais proativas na condução de economias em crise.
Nos últimos meses, num triste e perplexo Brasil, tudo ruma na contramão, de marcha à ré. Nessas plagas da desordem e do retrocesso, o credo econômico liberal se mantém e se reforça como a linha mestra do governo. Combina-se desregulamentação, privatizações, desestruturação e subfinanciamento do aparato público com o pagamento de um voucher que se pretende temporário. Como resultado acidental da pandemia, nota-se a formação de um eleitorado cativo, alimentado pelo pagamento do auxílio emergencial, que inconscientemente apoia as reformas desestruturantes do Estado. Mas há os que as apoiam de maneira consciente.
No atual estado das coisas, qualquer plano de recuperação e reestruturação da economia tende a ter caráter meramente retórico, dado que as travas à capacidade de ação do Estado não se põem em questão. O Estado está apático e, consequentemente, toda a economia brasileira. A postura, desde 2015, é de recuo, e a uma velocidade crescente.

Essa descrição alcança apenas a superfície da situação político-econômica. Sua genealogia ainda está por ser feita, e trata-se de um esforço que certamente essas parcas linhas não darão conta de satisfazer. Mas, para aproximarmo-nos de um entendimento mínimo das razões do horror ao Estado, cabe um exercício de empatia, por-se no lugar do pensamento neoliberal, infiltrar-se nos meandros do seu raciocínio e entender as bases que o sustentam. Como chegamos ao ponto em que militares de pijama, funcionários públicos e beneficiários da atuação direta do Estado reúnem-se num uníssono de críticas ao planejamento estratégico da economia pelo Estado?
Um dos princípios que norteiam o raciocínio neoliberal é a soberania do indivíduo, traduzida em termos orçamentários na ideia de que ninguém gasta melhor o seu próprio dinheiro do que você mesmo. Por que, então, destinar parte de seus recursos a uma jamanta administrativa e burocrática sujeita à corrupção e à inépcia? No Brasil da espetacularização da corrupção, do abismo social e da fragilidade institucional, o Estado é associado com a parcela mais corrupta da classe política e com a precariedade de parte dos serviços públicos. E o contexto de inépcia torna difícil perceber os benefícios da organização coletiva, sobretudo quando a liderança política se prova tão tosca, indecente e corrupta. O pagamento de impostos passa a soar como um vazamento de recursos que de um jeito ou de outro terminarão nos bolsos dos vilões corruptos da nação.
Essa construção imagética não é por acaso. A liderança executiva ocupa a atenção da mídia enquanto os processos de tomada de decisão se obscurecem por debaixo dos panos. A espetacularização da política centra-se em aspectos polêmicos e irrelevantes, e desvia as atenções da condução da política econômica, que vai recrudescendo o desmonte das estruturas de proteção social, e privatizando em silêncio o pouco que ainda resta de ativos públicos, em operações pra lá de obscuras e açodadas.
O fenômeno repete o modelo estadunidense, e no Brasil a atuação da mídia é marcada por uma estratégia em duas pontas: atacando constantemente a figura do presidente, mas – sobretudo nos segmentos midiáticos voltados à elite – defendendo o projeto de reformas neoliberais como o elemento que trará de volta o crescimento. Não à toa, a ombudsman da Folha, Flávia Lima, caracterizou o funcionalismo público como a ‘Geni’ da cobertura jornalística.[2]
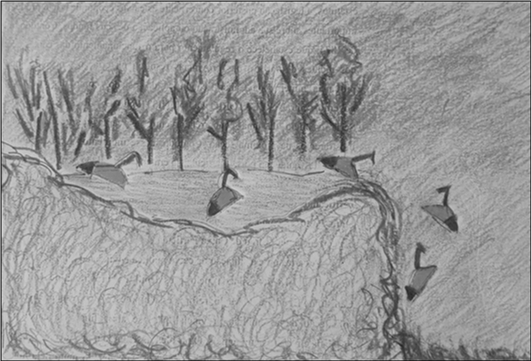
Como reflexo desse construto político, vai se aprofundando uma visão de que o Estado é um instrumento disfuncional. Mesmo o mais marginal dos empreendedores autônomos informais sente-se no direito de criticar a presença do Estado na economia, já que seu consumo é taxado pelo governo, e o governo se mostra uma bagunça típica dos maus alunos do fundão da sala. A seriedade das funções públicas se dissolve em galhofa, e a mistura dos interesses pessoais com o exercício da função de presidente dissocia o poder do Estado da defesa da vontade geral, que aliás torna-se cada vez mais um conceito alienígena ao senso comum.
O ataque à figura do Estado avança na direção da construção da percepção de um mecanismo cerceador da atividade privada, com regulamentos e legislações absurdos, que serviriam apenas como gatilhos para a corrupção em microescala. Estimula-se a crença de que seríamos capazes de organizarmo-nos de maneira livre e independente com muito mais eficiência na ausência do Estado. Um exame minimamente cuidadoso do que seria uma sociedade sem regulação nos leva a imaginar uma multiplicidade de Brumadinhos em todos os níveis, sempre que a precarização dos serviços prestados e a externalização de custos permitisse uma redução de despesas. É a lama, é a lama.
A lógica capitalista numa economia de mercado é, no limite, a maximização de ganhos, sopesados os riscos; a desigualdade social é legitimada por um discurso meritocrático dourado de hipocrisia; e a situação dos mais vulneráveis, relegada à caridade. Os experimentos neoliberais dos últimos cinquenta anos desafiam a hipótese de que o interesse individual levará inexoravelmente ao bem-estar da coletividade, já que aprofundaram desigualdades e geraram instabilidades político-institucionais incompatíveis com esse fim.
A cruzada contra regulamentações que hora se vê retira de cena os direitos trabalhistas e a rede de proteção de social, o que atinge em cheio o trabalhador menos qualificado e o chamado microempreendedor individual. O pobre empreendedor, ou o empreendedor pobre. A sensação de liberdade pela desestruturação do Estado é, na verdade, o aprisionamento dos mais vulneráveis à vida precária.[3] Melhor retirar direitos e ter trabalho, os incautos e os temerosos podem pensar, mas não há oposição necessária entre direitos e oferta de emprego. O que garante maior contratação de trabalhadores é, no final das contas, a própria dinâmica econômica. E diante da crise que vivemos, o Estado parece ser a única alternativa com escala capaz de coordenar e catalisar investimentos viabilizadores de uma retomada. A depender da iniciativa exclusiva do mercado, seguiremos patinando, acompanhando a maré, que por essas bandas já não anda bem há muito tempo.
A euforia observada recentemente no mercado de ações é um fenômeno resultante da brusca redução da taxa básica de juros que lastreia os papeis do tesouro. Os capitais empossados em títulos públicos migraram para as ações, e esse é um fato a se comemorar, já que potencialmente dinamiza o setor privado. Mas isso não reflete a temperatura da economia real. O cenário, de maneira geral, é de déficits nos balanços trimestrais, contração de investimentos e falências na maioria dos setores, e numa proporção até então desconhecida. Uma vez encerrado o movimento de migração de capitais dos títulos públicos para as ações, o impulso de alta certamente refluirá.
Por fim, aponta-se a ineficiência da gestão pública como indicativo da incapacidade do Estado de exercer funções produtivas na economia. A crítica é apenas parcialmente verdadeira, pois o tamanho das instituições interfere em sua eficiência, seja uma instituição pública ou privada. Há óbvios exemplos de equívocos na gestão das estatais, mas esse não é um privilégio do setor público. E se é verdade que serviços públicos por vezes pecam em qualidade, o mesmo vale para serviços prestados por grandes empresas privadas. Não seria o caso nos serviços de telefonia, internet, planos de saúde e bancos?
Cabe notar que o escancaramento da corrupção praticada nas mais variadas unidades de governo é sempre o primeiro argumento de ataque ao Estado, e o mote preferido dos aventureiros da política que se apresentam como novidade. Assim se elegeram muitos que agora estão sob o jugo da justiça. O apelo moral tem sido recorrentemente mobilizado ao longo da história para provocar instabilidade política, sendo recomendável desconfiar de paladinos anticorrupção.
É certo que a corrupção é um mal a ser combatido sempre, mas é apenas parte do problema, sobretudo quando a maior parcela dos crimes contra a coletividade se pratica na legalidade. Um equívoco muito comum é confundir governos e políticos com o Estado. Os focos de corrupção mais relevantes geralmente se associam aos primeiros e não ao último. Vale lembrar que o Estado é cerceado por uma rígida fiscalização, tanto privada quanto pública, ainda que sejam sempre necessários aperfeiçoamentos nos mecanismos de controle. É raro considerar a corrupção no setor privado, cujos agentes de grande porte, em geral, são os praticantes da corrupção ativa, que seduzem os governos e agentes públicos a se corromperem. De certo ângulo, a corrupção, a rigor, é a compra privada do poder público.

Enquanto isso, no mundo real, vivemos a pior crise de nossa história, exatamente porque nunca estiveram tão claramente em xeque as vantagens de se fazer parte de um contrato social. A parca coesão do tecido social se mantém pelo suborno dos sessenta e sete milhões de pobres e desempregados, que são impedidos de encarar o auxílio emergencial como um direito. São induzidos a vê-lo como uma caridade pessoal do presidente, já que o próprio dedica auspiciosos esforços em capitalizar para si os méritos de cada pagamento e extensão. O protagonismo do legislativo nesse caso é obscurecido e, a depender do liberalismo de Paulo Guedes, sequer haveria auxílio. Fato é que esses milhões de brasileiros são pessoas reais, com famílias, formação, merecedores de dignidade, e que adorariam ter onde trabalhar e não depender de um auxílio que soa como esmola extemporânea. E, não fosse o Estado, talvez agora assistíssemos a uma onda de violência em escala desconhecida. A paz instável e cínica que vivemos só é possível por que o Estado rompeu os grilhões do teto de gastos e agiu. Esse auxílio é um paliativo importantíssimo, mas ainda assim um paliativo, insuficiente para resolver os passivos brasileiros e engrenar uma trajetória de crescimento e desenvolvimento.
A hipocrisia dessa situação é que o Estado abre os cofres para socorrer os desesperados da crise – mirando os impactos eleitorais e o apaziguamento da crise social – e o sistema financeiro, mas fecha os olhos para as necessidades das escolas, universidades, hospitais, museus, centros e institutos de pesquisa, e mesmo as empresas de pequeno e médio porte, que seriam em conjunto as instituições portadoras de futuro, que de fato empregam os brasileiros e desenvolvem tecnologias. Vai se conformando um modelo de gestão do Estado que perpetua a miséria, mas que a atenua com pagamentos de recursos em dinheiro, quando na realidade a vontade geral é ver-se empregado numa função da qual possa se orgulhar e que permita a mínima autonomia para exercer junto ao mercado os desejos e interesses típicos de um cidadão do século XXI.
A tragédia conjuntural, por fim, tem origem conceitual. Quem governa enxerga o povo como incompetente e vagabundo, e busca privilegiar os escolhidos, a cepa genética dos vencedores, estabelecendo uma dinâmica dialética com os grandes do mercado, que já se creem superiores de partida. Enquanto ambas as partes virem seus privilégios perpetuados e incrementados, pouco importa o progresso do Brasil e sua realização enquanto povo e nação.
O Brasil, como resultado, torna-se cada vez mais desigual, apesar do alívio emergencial ter reduzido esse impacto. A elite olha cada vez mais para o povo como ‘eles’, e se recusa a pertencer. Acredita carregar o fardo civilizatório do homem branco,[4] quando na verdade preocupa-se apenas com seu próprio enriquecimento e com a proteção de seus próximos. E a vida se recrudesce, para uns e para outros. As distâncias sociais forçam o encastelamento, e impedem a interação. A inventividade popular é isolada, desperdiçada. E a elite vive uma rotina de pena e desprezo, amargurando-se em si mesma, inconsciente da potência da vida em comunhão.[5]
Mesmo que caibam críticas justas a sua atuação, o horror ao Estado não parece fazer tanto sentido, especialmente em países periféricos e pobres como o Brasil. A atuação do Estado nos países mais bem sucedidos no combate ao coronavírus mostrou a ineficiência ou inadequação do mercado para resolver o problema sanitário, econômico e social. No Brasil, a pandemia tem dado sinais reveladores da importância vital de uma instituição capaz de refazer o tecido social, promover o desenvolvimento econômico e oferecer esperança a um povo em busca de um sentido coletivo. Não obstante, o país segue desalinhado do mundo e da realidade.
[1] O Consenso de Washington foi decálogo de regras básicas proposto por um conjunto de economistas que se reuniram em Washington, sob a liderança de John Williamson, em novembro de 1989. São todas propostas liberalizantes, como a privatização das estatais, abertura dos mercados nacionais aos estrangeiros, redução de gastos público, entre outras. Para mais, ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
[2] O artigo de Flávia Lima foi publicado na edição de 30 de agosto de 2020 da Folha de São Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/flavia-lima-ombudsman/2020/08/a-geni-da-cobertura-jornalistica.shtml
[3] Uma boa amostra disso é o documentário ‘Estou me guardando para quando o carnaval chegar’, de Marcelo Gomes, sobre o polo de produção de jeans em Toritama, no agreste pernambucano. Na academia, discute-se o conceito de precariado. Ver o livro The Precariat, de Guy Standing, publicado em 2011.
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Man%27s_Burden
[5] O mais incitante dos discursos de Rousseau sobre a desigualdade entre os homens não é sobre a origem desse fato, mas sobre suas consequências disfuncionais para os homens, tanto no plano coletivo, mas sobretudo no plano individual. O homem se apequena individualmente quando enfrenta a desigualdade. Vive num continuo conflito pessoal entre a pena e o desprezo. A pena como reflexo natural de reação ao sofrimento de outrem. O desprezo como modo de sobrevivência na selva das vaidades. Os modos tornam os homens progressivamente resistentes ao sofrimento de um concidadão. São uma espécie de bloqueio para o sentimento de pena, reflexo automático de qualquer ser vivo dotado de sensibilidade. Os modos facilitam a sociabilidade em sociedades grosseiramente desiguais, já que a pena pode ser paralisante, mas castram a plenitude de fruição da vida. Tornam as escolhas humanas cada vez mais autômatas e cada vez menos autênticas. A arte – o aspecto mais sutil e inovador da produção – padece, e em consequência, toda a sociedade padece: “Não é possível que os homens não façam (…) uma reflexão sobre uma situação tão miserável, e sobre as calamidades que os oprimem. Os ricos devem sobretudo sentir como lhes é desvantajosa uma guerra perpétua da qual extraem sozinhos todos os lucros e na qual o risco de vida é comum, e o de perder os bens particular a eles. Apesar do caráter que possam oferecer para suas usurpações, serão sempre assentidas sobre um direito abusivo e precário, obtidas apenas pela força, e a força pode destituí-los sem que tenham razões para se queixar.” (J.J. Rousseau, Discours sur l’Origine de l’Inegalité, 1971 [1755], Garnier-Flammarion, Paris, p.237, tradução nossa)
______________________________
Autores: Patrick Fontaine Reis de Araujo
e Thiago Fontelas Rosado Gambi
(Professores do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas)