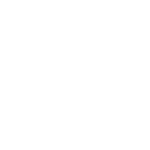Alfredo Bosi assegura, a páginas tantas de sua monumental História concisa da literatura brasileira, que o romance de Cornélio Pena é “um conjunto absolutamente coeso e verossímil”. Opinião excessivamente generosa: A menina morta (1954), lido com o vagar devido e até obrigatório – pois é muito enfadonho –, revela-se, isso sim, uma narrativa que perdeu, ainda antes da metade, o rumo que no início ao menos havia parecido ter. Acaba, por isso, reduzindo-se a um desfile de almas penadas que até podem denotar qualidades ficcionais, mas a verossimilhança não será uma delas.
Não é a atmosfera de sonho que destrói a alegada coesão. Essa ruína narrativa construída ao longo de umas 450 páginas poderia guardar o propósito de criar um clima de mistério a partir de lacunas no material narrativo se, com as peças principais já dispostas no tabuleiro, o narrador não começasse a dar mostras de não ter sabido bem aonde pretendia chegar. Havia um conceito de romance, mas não havia clareza a respeito das motivações de cada personagem, e assim algumas das principais figuras do enredo terminam por tornar-se quase zumbis, transparecendo em suas falas e atitudes numa desconsideração quase completa, por parte do autor, do princípio da causalidade.
Veja-se o caso de Carlota. Ela comparece à ação mais ou menos na metade do romance. Havia sido mandada buscar ao Rio de Janeiro por seu pai pouco depois da morte da menina do título, sua irmã mais nova. Jamais sabemos do que havia morrido a criança, nem mesmo qualquer personagem diz o nome dela, embora todo o clima criado no enredo dependa do sentimento de pesar que deriva de seu desaparecimento. Há, a propósito, uma solidariedade anímica entre senhores – incluídos os muitos agregados da fazenda do Grotão – e escravos que, já de saída, coloca em questão a verossimilhança da obra. Não porque fosse impossível de ocorrer no mundo real, numa fazenda do Vale do Paraíba e às vésperas da Abolição, mas porque o narrador não apresenta elementos que justifiquem a simpatia dos escravos por quem vive no ócio à custa de seu trabalho, simpatia concentrada em verdadeiro culto religioso na adoração de algumas mucamas às filhas do Comendador – somente assim é nomeado o proprietário da fazenda de café caracterizada como um imenso feudo no interior paulista. A reconstituição miúda do cotidiano dessa propriedade, por sinal, é um dos pontos altos do romance: elemento realista em meio à sobrevivência de alguns dos mais surrados clichês do Romantismo.
Carlota chega, supostamente, para ajudar todos a sofrer menos devido à morte da irmãzinha, mas logo seu pai anuncia que ela ficaria noiva de um rapaz da fazenda mais próxima ao Grotão, cujo dono era um figurão do Segundo Império que em breve legaria ao filho o título de barão, mas que aparentemente (essa é uma das muitas incertezas do enredo) está falido, devendo funcionar o dote da noiva como resgate da dignidade econômica da futura família. Pouco antes disso tudo, a mãe de Carlota havia desertado do Grotão, mas esperamos centenas de páginas pela explicação disso e, quando ocorre o retorno da Senhora, nas últimas páginas, continuamos na mesma.
Ainda Carlota: antes de sua chegada, os curtos capítulos do romance davam conta de pequenos episódios sem muita continuidade, mas todos convergindo no objetivo de criar aquela atmosfera opressiva mais ou menos ligada à morte da menina, circunstância que narrador e personagens não se cansam de mencionar. Nessa sua primeira metade, o romance move-se muito lentamente, chegando a lembrar um filme de Tarkowski, o narrador funcionando como uma espécie de captador de sutilezas psicológicas. O silêncio quanto às motivações dos personagens é tal que chegamos a suspeitar que o Comendador tenha algo a ver com a morte de sua filha, ou que o escravo Florêncio, que aparece “suicidado” na fazenda, tenha alguma relação com o desaparecimento de Dona Mariana, a mãe de Carlota. Mas nenhuma resposta é dada, e, logo depois da chegada da moça, as cenas passam a ser mais concretas e um pouco mais rápidas; vale dizer, a ação do romance se acelera.
O cotidiano da fazenda, à vista do leitor, é movido sobretudo pela ação das mulheres. Há Dona Virgínia, prima do proprietário, que funciona como vilã devido a seu orgulho perverso; há as irmãs Dona Inacinha e Sinhá-Rola, que vivem de favor na fazenda dos parentes, pois quase nada lhes sobrou da herança do pai; há Celestina, prima da mulher do Comendador, ainda mais pobre e constantemente oprimida pelo medo de não ter, no futuro, onde morar. No vaivém dessa coorte feminina pelos muitos cômodos da imensa casa, passando regularmente pela capela da fazenda, vão-se trançando e destrançando pequenas intrigas que, agora girando em torno do futuro casamento de Carlota, fazem o enredo mover-se bem mais rápido que no início, embora ainda com certa lentidão hesitante e repleta de desvios que vão dar a lugar nenhum.
É quando outra ausência inexplicável vem perturbar a parca previsibilidade do romance. Afinal, Carlota iria obedientemente casar-se com um moço que nem conhecia, mas de repente seu pai viaja para o Rio de Janeiro e vai ficando por lá, meses e meses, enquanto o maquinismo da fazenda continua a funcionar, agora acéfalo e dando mostras de ter entrado numa decadência em tudo associada ao desmoronamento, no entanto mal caracterizado, da família proprietária. No meio disso tudo, há alguma página magistral quanto ao estilo.
Mas nem nesse quesito A menina morta guarda coesão, pois contém tropeços bem elementares de concordância e até de lógica. Talvez à força de concentrar-se na resolução das muitas indefinições que veio criando, o escritor descuida de sua escrita. Correspondente ficcional desse domínio insuficiente dos instrumentos, as personagens femininas são de uma fragilidade pouco crível se contraposta a atitudes mais incisivas que se mostram capazes de tomar em certos momentos, e choram com uma frequência que chega a ser irritante.
Um pouco adiante do meio da narrativa, talvez o leitor se dê conta de que a menina morta ficou esquecida por páginas e páginas. De repente, e não porque Carlota tenha ocupado seu lugar, o sentimento geral de desalento pela morte da criança deixa de ser tão determinante no espírito dos personagens. O problema é que continha ainda figurando no título.
Engatilhado o desfecho, de repente Celestina fica doente e começa a comparecer ao Grotão um jovem médico. O amor entre ambos, que magicamente tirará a moça de seu desamparo, começa então a funcionar como nova mola do enredo, com aparente função de retardar o fim da história. Uma nota especialmente inverossímil, aqui: o entusiasmo repentino das outras senhoras pelo enxoval de Celestina chega a lembrar uma brincadeira organizada por crianças. Antes disso, a pobre moça era objeto de desprezo. E as duas irmãs solteironas, antes um tanto simplórias, agora aparecem cheias de observações inteligentemente ferinas. Aliás, os diálogos de A menina morta são quase sempre declamações de mau teatro, cheios de uma veemência que pessoas de carne e osso (à exceção de alguns tribunos de fancaria) não conseguiriam sustentar.
Uma de muitas perguntas que o narrador deixa sem resposta: em determinada cena a Condessa, mãe do noivo de Carlota, furta alguns documentos e os esconde no seio. Nunca saberemos, os pobres leitores, que documentos eram esses. Em certas passagens, poderemos pensar que não estamos entendendo o que ocorre porque cochilamos durante a leitura do capítulo anterior. Por sinal, eles são curtos e em número de 125.
Nos últimos, a narração se concentra no comportamento letárgico de Carlota, que, acometida por uma “febre cerebral”, passa a desfilar pelo casarão da fazenda como se fosse a síntese de todas as outras almas penadas que o habitam – as exceções são poucas, uma delas o primo octogenário Manuel Procópio, administrador da fazenda.
Se essa obra do escritor fluminense tiver uma mensagem, só poderá ser a santificação da propriedade privada. A única coisa realmente importante e inviolável, para praticamente todos os figurantes, e ainda mais para os menos bem situados economicamente, é a sacralidade da posse da fazenda do Grotão, com suas centenas de escravos (afinal libertados, mas também não nos é dito por quê), passada do Comendador para sua filha apesar de haver outro herdeiro, e mais velho.
Alguns dos elementos descosidos do romance, como nos piores folhetins do Romantismo, resolvem-se por meio de mortes súbitas. E assim se vão o Comendador e seu filho mais novo, que passaram o último terço do enredo na Corte, suspeitos de terem febre amarela, o que afinal se confirma. É quase tudo uma fantochada, na qual remanescem traços românticos dos mais banais, porém ainda agravados pelas veleidades psicologizantes do autor. E foi assim que Cornélio Pena, autor de outros dois romances, conseguiu ser incluído na história da literatura brasileira como expoente da ficção intimista que, na segunda fase do Modernismo, fez contraponto ao romance regionalista nordestino.
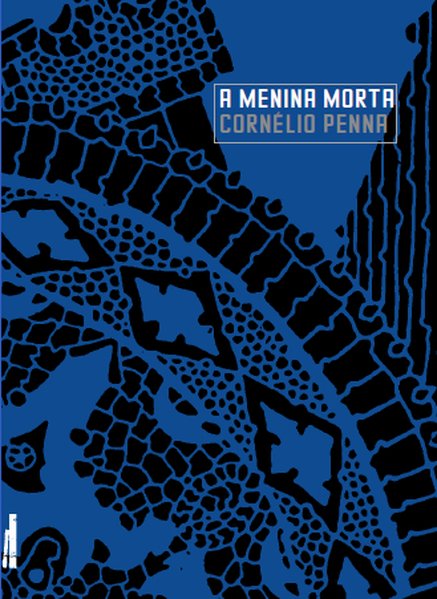
Título: A Menina Morta
Autor: Cornélio Penna
Gênero: Romance
Ano da edição: 2020
ISBN: 9786581275037
Selo: Faria e Silva Editora

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).