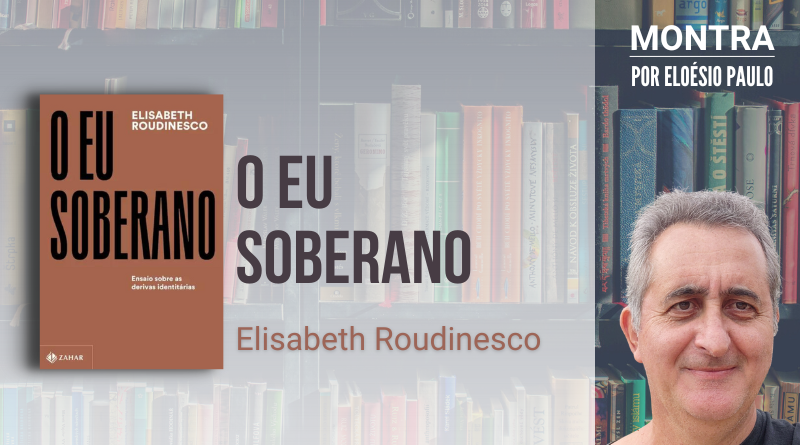À porta do supermercado espiritual
Não podendo criar uma nova ética, inventam uma moral de sinais trocados. Assim se pode resumir o juízo de Elizabeth Roudinesco em seu livro O eu soberano, que saiu na França em 2021 e acaba de ser publicado no Brasil, a respeito do que ela chama “derivas identitárias”. A autora não é qualquer uma, nem adianta pretender desqualificá-la com rótulos ideológicos: biógrafa de Freud e de Lacan (dois livros magníficos), Roudinesco é uma intelectual influente não só em seu país, mas em todos os lugares aonde ainda consegue medrar o debate civilizado de ideias. Sua autoridade como psicanalista se estende por vários outros campos, tendo resultado na publicação de obras indispensáveis ao entendimento das grandes questões culturais e políticas que preocupam as sociedades contemporâneas – ao menos na maior parte do Ocidente.
O subtítulo do livro já aponta para o alvo de sua crítica: “Ensaio sobre as derivas identitárias”. A pensadora se propõe desmontar as distorções, contradições e embustes dessa corrente político-ideológica que, nas duas últimas décadas, tem infestado o pensamento dos Estados Unidos e, por imitação, os de muitos países europeus, chegando, é claro, às eternas periferias intelectuais ansiosas por importar mais uma moda metropolitana. O que Roudinesco chama de “derivas” pode ter dois sentidos: um, ligado ao fato de correntes teóricas feministas, queer e interessadas em rever o estatuto do que um dia se chamou “negritude” serem versões radicalizadas (ou, em alguns casos, fanatizadas) de movimentos mais antigos; outro, remetendo à ideia de navegação descontrolada.
O trecho a seguir, transcrito do início do último capítulo, permite entender onde a autora situa o problema:
Depois da queda do Muro de Berlim e do triunfo mundial do capitalismo liberalizado, baseado no culto do indivíduo, os movimentos de esquerda ligados às políticas identitárias estão em busca de um novo modelo de sociedade que respeite as diferenças, se preocupe com a igualdade, com o bem-estar e com o care. Ecológicos e favoráveis à causa dos mais fracos, à proteção da natureza, dos animais, das minorias oprimidas, esses movimentos, com frequência generosos, têm a intenção de “reparar” o mundo, e para isso denunciam as injustiças, as guerras coloniais e o racismo. No entanto, numa reviravolta progressiva, alguns deles transformaram-se em advogados de um narcisismo das pequenas diferenças, a ponto de enredar-se na lógica mortífera do camaleão.
É com essa “reviravolta progressiva”, principalmente, que a autora se preocupa. Seu trabalho, em O eu soberano, consiste em analisar o processo pelo qual se deu cada uma das “derivas”. Nessa linha de raciocínio, faz falta ao livro uma parada no seminal estudo de Perry Anderson, Considerações sobre o marxismo ocidental (1976), em que o historiador britânico discute uma “deriva” anterior, a qual parece ser importante pressuposto para a compreensão daquelas que Roudinesco tomou como objetos de estudo. Anderson mapeia, na obra mencionada, os caminhos pelos quais o pensamento radical apoiado em Marx se desviou, pelas várias razões que tornaram difícil acreditar na revolução proletária, para a esfera cultural, resultando em militâncias voltadas para o campo simbólico e em reorientações da teoria revolucionária como aquela em que se empenhou o italiano Antonio Gramsci. Como diz a fiel Desdêmona em Otelo, “em tais casos/ Os homens lutam com coisas menores/ Embora as grandes sejam o problema”.
Talvez também ajudasse refletir sobre a ausência, nos Estados Unidos, de um movimento revolucionário com perspectiva de poder – lá, principalmente, o pensamento de esquerda só existe confinado em setores da imprensa e na academia, e dessas esferas é que partem os principais vetores do identitarismo. Seria interessante pensá-los como expressões de um ímpeto revolucionário esvaziado pela “micropolítica” das reivindicações guetizadas.
A “imersão nas trevas do pensamento identitário” começa com o capítulo “A galáxia do gênero”, no qual a autora faz um sumário das refrações teóricas que foi sofrendo a afirmação, feita por Simone de Beauvoir em O segundo sexo, lá no longínquo 1949, de que ninguém nasce já sendo mulher. Daí para as “transidentidades” e a “loucura inquisitorial” desaguando num evento bizarro como o Scum Manifesto (1967) – que propõe nada menos que a erradicação da masculinidade –, o percurso descrito por Roudinesco explica a espécie de supermercado espiritual em que se transformaram importantes círculos do debate de ideias em algumas das principais praças intelectuais do Ocidente. Embarcados nessa nau, muitos agentes culturais fazem coro à mais do que duvidosa (pois seus argumentos não têm nenhum lastro científico ou fundamento lógico) aclamação “progressista” do direito de qualquer pessoa a declarar-se qualquer coisa em termos de identidade sexual – aliás, oficialmente não mais sexual, pois tal determinação biológica (quer dizer, científica) não serve ao interesse ideológico dos promotores de uma “libertação” individual que já consistiu, algumas vezes, na amputação de órgãos genitais de crianças. Vislumbra-se, a partir do panorama esboçado por Roudinesco, o dia em que um sujeito exigirá ser chamado Deus e todos precisarão atender ao seu capricho ou delírio psicótico, pois ele se sentirá oprimido se lhe negarem a divindade, e dessa infração à soberania do ego nenhum dos bilhões de sistemas solares do Universo sairá ileso.
O tópico seguinte é o da raça. De modo análogo, a autora resume a trajetória do marco identitário fundado na condição de afrodescendente. E constata o mesmo tipo de reviravolta, pelo qual um grupo extremista minoritário termina, por força de sua “militância feroz”, pretendendo impor a todo o conjunto de uma sociedade o que pode ou não ser dito ou pensado a respeito de pessoas cuja pele seja escura; Roudinesco não o diz, mas a expressão “lugar de fala” vale por uma declaração de guerra a toda tentativa de racionalidade. Aí, mas uma vez, a progressão fanatizante de um paradoxal exclusivismo grupal desemboca na tresloucada proposta de isolar os afrodescendentes de qualquer convívio com indivíduos brancos – um nazismo às avessas, se se for verificar como isso poderia funcionar na prática.
A questão da raça – um conceito esvaziado de qualquer respeitabilidade teórica há quase cem anos – se imbrica no problema da colonização de países africanos por europeus, e nesse caso a discussão privilegia casos representativos da problemática nas colônias francesas na África, não sem conferir a devida importância à contestação do estatuto colonial e da escravidão na Martinica, departamento caribenho da França onde despontou aquele que talvez seja o grande herói de O eu soberano, o escritor Aimé Césaire, cujo legado político e intelectual termina rasurado, assim como o do filósofo Frantz Fanon, por postulações mais fundadas no ressentimento e na vingança do que em promover a justa reparação devida às comunidades de origem africana. A propósito, a palavra “negritude” foi, segundo a autora, criada por Césaire.
Do problema colonial se chega, mais uma vez com o foco concentrado no contexto francês, aos estudos “decoloniais” cujo aporte à prática política ocasiona novos desvarios, sendo o principal deles a defesa do “direito” de mulheres muçulmanas a usar, em espaços públicos, vestimentas que são signos de sua sujeição milenar ao machismo congênito do Islã. A justificativa para tal defesa é a “islamofobia” das sociedades europeias, que deveriam, pelo mesmo raciocínio, coonestar uma opressão para penitenciar-se de outra. Mais um caso em que, como reza o dito popular, parece importar pouco se a criança vai ser despejada junto com a água suja do banho.
Ninguém é obrigado a concordar com as posições da autora, cujo trabalho intelectual se associou, crescentemente, à intervenção em todos os debates importantes para a sociedade francesa nas últimas décadas. Ela assinou, por exemplo, um apelo à ONU contra a “transfobia”, em 2009. Sua contribuição com O eu soberano vai no sentido de uma ponderação dialética que ajude a impedir, na espiral da “inversão de estigmas” movida pelas correntes ideológicas em discussão – cujos adeptos, muitas vezes, pensam de menos e sentem de mais –, a emergência de fanatismos cheios de boas intenções, mas que, uma vez vitoriosos na cena política, tornem-se instrumentos de opressão mais terríveis do que aqueles que pretenderam combater. É nesse ponto que um identitarismo de direita como a Ku Klux Klan – eles também são objeto da discussão de Roudinesco – surge refletido no espelho da intolerância quando o ativista Kemi Seba, um antigo radical de esquerda convertido ao Islã, proclama que “o homem branco é o diabo”.
Aspectos notáveis do livro, a propósito, são sua pequena antologia de figuras e episódios bizarros e seu glossário de neologismos que a autora alega imitarem a proteiforme nosologia psiquiátrica. Quando um fenômeno produz tais mostrengos, é provável que exista algo de muito errado com ele.
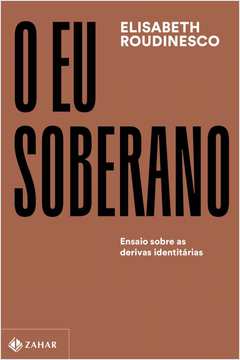
Título: O Eu Soberano: Ensaio sobre as derivas identitárias
Autora: Elisabeth Roudinesco
Ano da edição: 2022
ISBN: 9786559790531
Selo: Zahar

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).