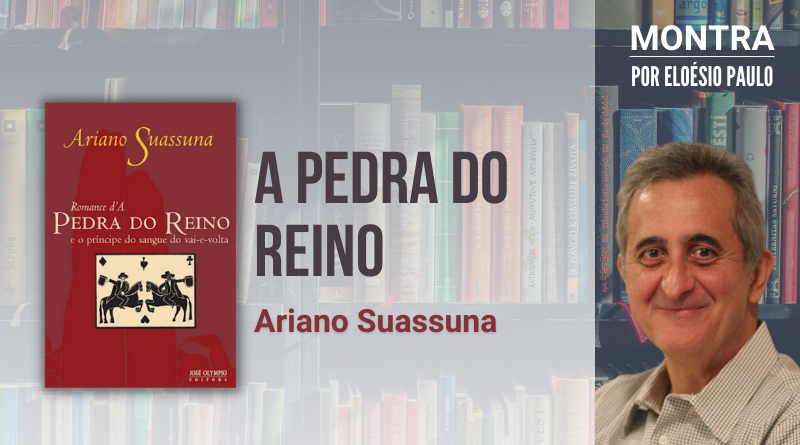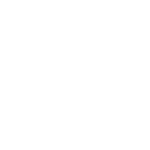Admiradores do Auto da compadecida (1955), que já era uma peça de teatro muito aclamada antes de virar filme, tendem a ficar decepcionados com o Romance da Pedra do Reino (1971); duas ou três passagens engraçadas não o tiram da condição de narrativa algo confusa e bastante enfadonha. Para começar, tanto o autor como seu narrador passam mais de 600 páginas indecisos entre estar falando sério ou não, e nenhum dos gracejos do segundo são convincentes da propensão do primeiro para a autoironia.
É que o paraibano Ariano Suassuna, pessoalmente um sujeito bem engraçado até quando negava a evolução das espécies brandindo (em vídeo popular no Youtube) um prendedor de roupa como argumento, escreveu o livro para concretizar sua doutrina estética, fundada em teorização meio especiosa sobre as origens de certa “nobreza” nordestina, cujos brasões de família respondem pela denominação “Movimento Armorial”. Um dos parceiros de Suassuna nessa empreitada foi o também ficcionista Hermilo Borba Filho, o que torna bem compreensível a exageração (sic) deste ao comparar o outro a Dante. Os elogios de Rachel de Queiroz e Carlos Drummond de Andrade, ao menos, foram um pouquinho mais comedidos, enquanto Carlos Lacerda trazia à baila, ainda, o Quixote em sua louvação da obra – todos os quatro, na contracapa do volume editado pela Livraria José Olympio.
A régua é muito mais embaixo, que pena! Além de enfeixar uma sucessão de episódios que mistura, sem critério visível, tempos e espaços, o livro sofre de um inacabamento que as desculpas dadas pelo narrador não chegam para atenuar. Pedra do Reino consiste num torneio verbal longuíssimo à volta de algumas obsessões do autor, sendo talvez a principal uma identificação muito periclitante entre o rei D. Sebastião, de Portugal, o líder messiânico Antônio Conselheiro – o “anacoreta sombrio” tão bem caracterizado por Euclides da Cunha em Os sertões (1902) – e São Sebastião. A esse núcleo lendário vem somar-se uma série de mitemas da cultura popular nordestina que, em princípio, justificam a organização do romance em 85 “folhetos”, como se cada um destes correspondesse – apesar de escritos em prosa – a uma daquelas narrativas de cordel, até hoje vendidas nas feiras do Nordeste.
Mas o material narrativo fica meio soterrado pela discussão de posições políticas e estéticas que, numa época em que o país vivia sob a mais feroz ditadura de sua história, haviam-se tornado material para uma espécie de museu ideológico. Pedro Dinis Quaderna, o narrador e protagonista, passa boa parte da primeira metade do romance a discuti-las com seus dois antigos professores, Samuel e Clemente, o primeiro dos quais representa uma caricatura da militância comunista no início do século XX; o segundo, este reencarna a Ação Integralista, versão tupiniquim do fascismo cujos líderes foram Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Por mais que Quaderna tente equilibrar-se numa síntese pessoal (e saudosamente monarquista) das duas tendências em disputa no discurso de seus mestres, é indisfarçável sua simpatia pelas teses do integralismo.
Uma enfiada de problemas estéticos, filosóficos e políticos impede Pedra do Reino de ser um bom romance. Aliás, venham à lista alguns senões meramente lógicos, a começar pelo fato de que a pedra do título são, de fato, duas. Em pleno último terço do século XX, Ariano Suassuna ignora solenemente a tradição modernista, a não ser que o uso eventual de vocabulário chulo (o qual, ao menos, pode servir para acordar o leitor da lengalenga hipnopédica com pretensões a sabedoria histórico-sociológica) seja considerado indício de modernidade. Ariano continua no século XIX, e seu modelo de ficção é José de Alencar, de cuja capacidade fabuladora, no entanto, fica muitíssimo aquém.
A outra metade das páginas, ou mais, é ocupada pelo interrogatório de Quaderna por um corregedor com “cabeça de porco”. O objeto da investigação é um episódio que deveria – mas não o faz – amalgamar todas as linhas narrativas esparsas pelo enredo rarefeito em que resultou a pretensão “armorial” do escritor, na qual Quaderna se considera o verdadeiro rei do Brasil, chamando “impostores” aos monarcas da Casa de Bragança e misturando uma delirante ascendência familiar a D. Sebastião com a embrulhada de piruetas genealógicas sertanejas pela qual um seu parente havia sido, no século XIX, o “rei degolado” cujo sucessor, no ano de 1938 (em que a narrativa principal se ambienta) seria ser “o moço do cavalo branco”, um rapaz chamado Sinésio, ao mesmo tempo sobrinho e primo do narrador, e que havia sido assassinado, mas depois ressuscitou para aparecer às portas de Taperoá (cidade paraibana onde Suassuna morou) comandando um bando de ciganos dispostos, pelo visto, a concretizar a promessa de Antônio Conselheiro de fazer justiça aos pobres e castigar os poderosos. Não fica tão distante das misturadas paulocoelhescas, mas com tal cometimento Quaderna espera ser reconhecido o “Gênio da Raça Brasileira” e superar o próprio autor da Ilíada.
O mais são figuras heráldicas, reproduzidas todas no romance em xilogravuras, que retratam, na simbologia suassúnica e armorial, uma barafunda de onças, gaviões, veados e antas com o interesse manifesto de contrapor-se aos brasões europeus, os quais, para o romancista, tinham desvirtuado desde o século XIX (pois o XVIII parece não ter existido nessa mitologia) a verdadeira essência nordestina do Brasil, ainda relativamente intacta na época em que D. Sebastião, o “Desejado” das trovas do sapateiro Bandarra, desapareceu nas areias de Alcácer-Quibir, mas escapou para o Brasil num cavalo emprestado por Jorge Albuquerque Coelho, aquele governador da capitania de Pernambuco a quem Bento Teixeira Pinto dedicou sua Prosopopeia (1601), epopeia falhada que assinala historicamente a eclosão do estilo barroco entre nós.
“É capaz”, como diz o outro, de algum pesquisador muito esforçado estar à altura de reconstituir a lógica do sistema estético-ideológico ariânico. Seria um bom exercício acadêmico. Quanto ao valor literário da obra, pedestre leitor, salte três casas para trás e leia Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, caso tenha interesse por uma mitologia brasileira com – apesar da aparência caótica – pé e cabeça.
(O título desta resenha foi recortado da página 499 da 4ª edição do romance, feita pela José Olympio em 1976, e refere-se a certa impressão sentida pelo personagem de um poema de Olavo Bilac.)
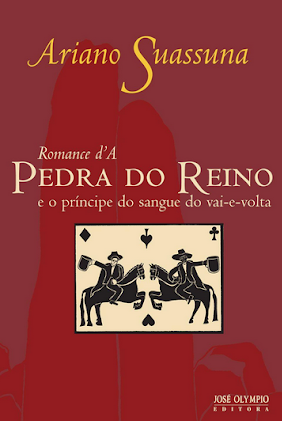
Título: A Pedra do Reino
Autor: Ariano Suassuna
Gênero: Romance
Ano da edição: 2004
ISBN-10: 8503007932
ISBN-13: 978-8503007931
Selo: José Olympio Editora

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas).