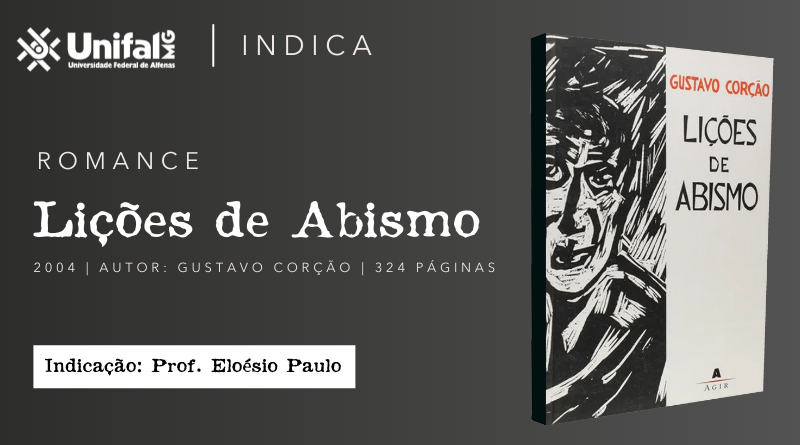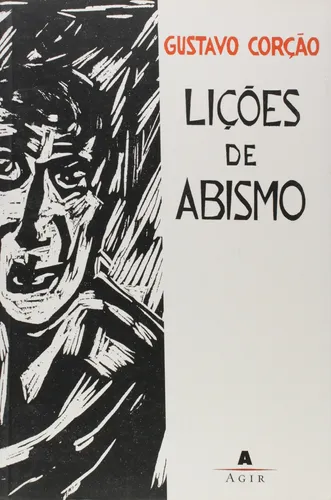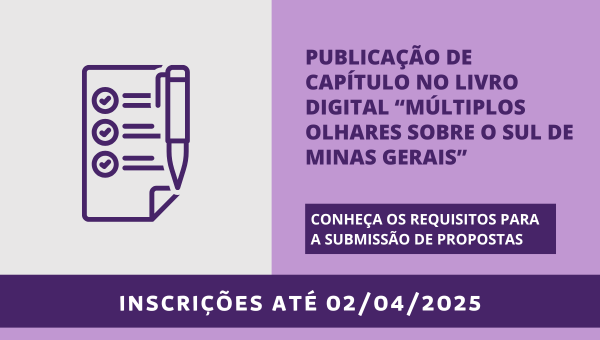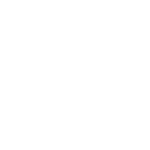Há uma cena em particular, entre várias de Lições de abismo (1951) que justificam a comparação do estilo de Gustavo Corção com o machadiano. É aquela em que, visitando o narrador-protagonista, seu médico, às desajeitadas marteladas de quem não sabe usar a ferramenta, prega um crucifixo na parede do quarto. Cena ao mesmo tempo bizarra e tocante, teria bastante graça se o próprio autor, com seu espírito dobradiço e jocoso, começasse por ela uma resenha de sua própria obra, o que daria fatalmente em outra daquelas “vertigens da alma” às quais se refere o próprio narrador e que constituem o melhor de seus trabalhos e dias.
O romance tem a forma do diário de um homem moribundo. Logo nas primeiras páginas, José Maria começa a tecer uma espécie de preparação ao mesmo tempo espiritual e textual para a morte. Ele é diagnosticado com leucemia, sendo-lhe previstos no máximo mais três meses mais de vida. A partir desse choque, que o leitor talvez pressinta antes do final da consulta, José Maria começa a anotar ocorrências miúdas de seu cotidiano e as cada vez mais frequentes viagens interiores que empreende. Quem pensou no “defunto autor” de Machado de Assis, acertou; a diferença capital é que o narrador de Lições de abismo ainda se encontra neste “lado do mistério”. O final do capítulo intitulado “Bodas de sangre”, caso a gente se lembre de que ele remete a uma cena da infância do narrador, é talvez a coisa mais machadiana que um escritor jamais escreveu. E estamos diante de um assumidíssimo machadiano, que não hesita em decalcar aspectos marcantes dos enredos de Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.
Também quem pensou nas introspecções de Clarice Lispector não errou, mas a escritora tinha maior vocação para transformá-las num enredo povoado de personagens tão estranháveis quanto seus narradores. E havia estreado na ficção antes da publicação de Lições de abismo.
A força de Corção está no discurso cheio de poesia e de raciocínios inesperados, desconcertantes. É tal discurso que sustenta um texto às vezes perigosamente vizinho da pura especulação filosófica. Uma especulação quase sempre de alto nível, confirmando a condição profissional do protagonista (José Maria é professor de Filosofia), mas ocasionalmente longe demais das necessárias bitolas de uma narrativa: tempo, lugar, ação. Melhor é quando o escritor consegue equilibrar esse pendor para a reflexão e um pouco de drama; o conteúdo dramático, porém, espalha-se em meio à constante digressão. Mesmo assim, esperam pelo leitor surpresas e revelações nas páginas que antecedem imediatamente ao desfecho, e daquelas bem tipicamente romanescas: adultério explicado, filho que não é filho. Sem a constitutiva dúvida do narrador casmurro.
Nos vários capítulos em que o enredo é preterido em favor da especulação filosófica, com frequência um jato inesperado de poesia vem nos lembrar de que estamos lendo uma obra literária. A especulação, é verdade, começara no terreno da literatura, pois o diapasão dado pela perspectiva da morte enviara o narrador a Hamlet. Mas, em seguida, suas meditações o conduzem a Kierkegaard, Voltaire, Heidegger, e o professor de filosofia parece, muitas vezes, esquecer-se de que tem uma história a contar. Isso porque, é claro, essa história se reduz, na sua perspectiva, à rápida aproximação de seu desaparecimento. Mas José Maria exagera, chegando ao requinte de “corrigir” a teoria de Bergson sobre o riso e a tese de Flaubert sobre o tipo humano de Emma Bovary. Nessas alturas, é provável que o romancista tenha perdido muitos leitores.
Vista a coisa com mais otimismo crítico, se isso existe, pode-se dizer que a perspectiva da morte traz um efeito especificamente poético, aparentando a narrativa ao Heidegger descartado por José Maria como “obscuro”. O narrador, ao perceber tudo transformado pela vizinhança da morte, recupera o estranhamento que torna um indivíduo capaz de perceber com clareza os absurdos dados como normais pelas pessoas que o cotidiano tem como função domesticar. É aí que sua escrita retorna – para o bem do próprio romance – às imaginações esquisitas que tanto nos recordam Brás Cubas a enxergar como esqueletos os participantes de um baile. Essa capacidade de vislumbrar aquilo que o psicanalista Fábio Herrmann chamou “os andaimes do mundo”, os fios soltos da suposta coerência que se diz cimentar a vida cotidiana, faz de José Maria uma personagem fascinante, a despeito de sua ocasional logomaquia.
A especulação o leva do verme às estrelas, e a graça de seu “prolongado solilóquio” não se extravia para aqueles que não pedem ao romance apenas aquilo que essa forma narrativa oferece na maioria dos casos: a impressão de que o mundo faz sentido, de que os fatos humanos são realmente explicáveis em termos de causa e consequência. O périplo interior acidentado e meio sem rumo consitui, afinal, as “lições de abismo” do título: tratava-se de aprender a morrer, de preparar-se para o grande mistério de inexistir – ou de existir em outro plano, porque o escritor era um recém-convertido ao catolicismo.
Houve quem, forçando um tanto a mão, quis situar Lições de abismo no pódio dos maiores romances brasileiros. A petição não se sustenta, embora ele seja um grande livro. É que, se Gustavo Corção aprendeu com Machado a arte de enxergar o avesso dos homens e da sociedade, assim como aprendeu o manejo perfeito do idioma, não teve tempo de dominar as engrenagens sutis que fazem um de um bom romance a imitação, num plano puramente mental, das muitas maneiras pelas quais os seres humanos experimentam no tempo e no espaço a complicação de suas vidas e a expectação da morte, essa Penélope cuja fidelidade ninguém é capaz de fiar.
Onde encontrar:
Livrarias on-line