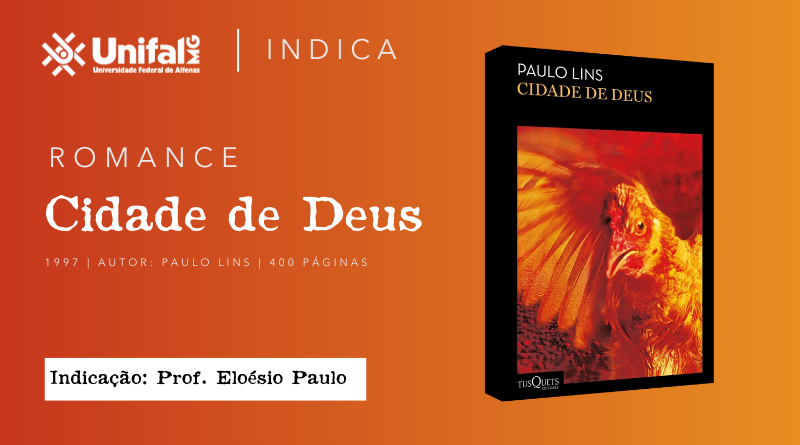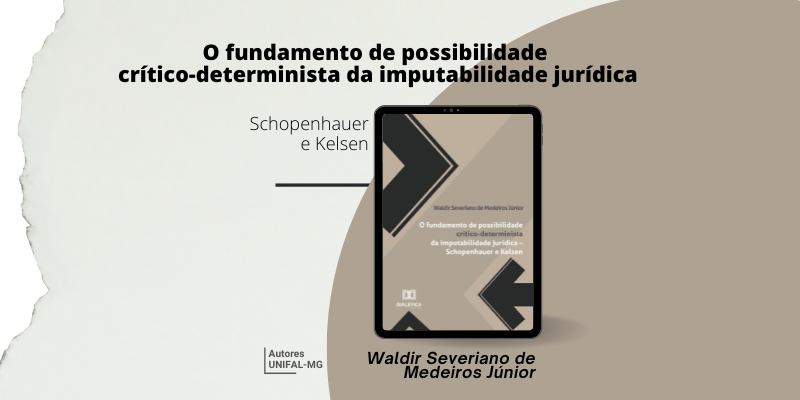O absolutismo pobre da Cidade de Deus, por Eloésio Paulo
O estilo de Paulo Lins contém impurezas e tropeços, como os continham os de Balzac e Dostoiévski. Mesmo um leitor entusiasmado da primeira hora, o crítico marxista Roberto Schwarz, não deixou de notar certas “desigualdades literárias” em Cidade de Deus (1997), tratando, no entanto, de conferir a elas um status de funcionalidade estética. Houve também críticas simplórias na chave do “dá pouca voz aos trabalhadores, às mulheres”. Sejam quais forem as ressalvas que se lhe façam, Cidade de Deus foi o último fato significativo da literatura brasileira no século XX. E, como todos sabem, deu origem ao excelente filme de Kátia Lund e Fernando Meirerlles, lançado em 2022.
A importância do romance não pode ser percebida apenas assistindo à película. A obra original resultou de uma pesquisa antropológica feita sob a orientação de Alba Zaluar; Paulo Lins passou mais de meia década entrevistando criminosos e moradores da comunidade que dá título ao livro. De posse dos dados, romanceou o desenvolvimento da violência que, no início dos anos 1980, deu ao bairro carioca o título de um dos lugares mais perigosos do mundo.
De saída, Cidade de Deus tem a qualidade de expor sem disfarces os intestinos da criminalidade: as condições de vida miseráveis que ajudam a entender “inexplicáveis” chacinas sempre atribuídas ao mesmo motivo genérico e muitas vezes falso, a disputa pelo controle do tráfico de drogas. O romance apresenta com força de verdade um cotidiano violento que a comunicação massificada só faz banalizar ao transformá-lo em espetáculo – uma espécie de Tutu Marambá para acentuar o medo em adultos infantilizados. Paulo Lins explora as situações básicas do crime em tantas variações que consegue atualizar, com um vigor estético incomum, essa experiência da qual a maioria dos leitores mal consegue fazer ideia em meio à névoa que a desinformação consegue provocar nas mentes pouco avisadas.
O maior trunfo do escritor, sem dúvida, foi o fato de haver morado na favela e presenciado ao vivo muitas das situações que descreve. Lins era apelidado “Paulo Maluco” na Cidade de Deus; mais do que um pesquisador com a cabeça cheia de teorias, era vizinho e conhecido dos “bichos-soltos” que povoam seu romance. Que deveria ser leitura obrigatória nas escolas, especialmente em cursos de Direito, pois nenhum dos discursos, palpitantes e palpiteiros, em voga na sociedade brasileira chega nem perto de explicar os verdadeiros vetores do narcotráfico tão bem como Cidade de Deus. Mas a quem interessa a verdade, neste país onde a religiosidade (ressalvem-se as notórias exceções) e a comunicação social viraram pura mercadoria política?
A extensão do livro – mais de 500 páginas – é o que garante, como bem notou Eric Nepomuceno, a duração intensificadora do entendimento de um cotidiano essencialmente violento. É difícil imaginar modo mais eficaz de dramatizar a onipresença da criminalidade na favela. O efeito cumulativo, associado à crescente virulência das ações de predação, também ajuda a criar a sensação de realidade, a sucessão de episódios acaba por compor um painel da coletividade sufocada pelo banditismo transformado em Estado paralelo. Os trabalhadores e “otários”, a gente que não comete crimes, só aparecem como vítimas casuais do crime, algumas delas (como Manoel Galinha e Bené) convertidas em bandidos por imposição do meio. Aqui se adivinha certa base naturalista, e de fato o romance tem notável semelhança com O cortiço, de Aluísio Azevedo. Mas não transparecem nele pressupostos teóricos, o naturalismo de Lins deriva da exposição nua e crua da verdade. O determinismo da condição social é relativizado pelos lances imponderáveis do acaso.
A matéria do romance é a violência em todos os seus matizes. A sucessão de latrocínios, estupros, execuções, chacinas e balas-perdidas tem sua contraparte linguística na reprodução do dialeto dos traficantes da época, que resulta, é claro, de uma pesquisa à parte. Os diferentes planos de linguagem, cujo entrechoque pode gerar certo estranhamento, são outra maneira de expressar a polifonia existencial experimentada no dia a dia dos moradores da Cidade de Deus. O narrador não perde tempo teorizando, faz um romance de ação. E narrar a guerra do tráfico, desde suas origens quase inocentes, é o que o Paulo Lins faz com perfeição. Seu domínio do tempo narrativo e dos diálogos é invejável; é o que mantém o leitor pegado ao livro, examinando sem perceber uma radiografia do grande movimento da História, a sempre melancólica e nunca triunfante – exceto nos panegíricos mentirosos – história do Brasil. Por isso foi que Vilma Arêas detectou em Cidade de Deus um andamento de epopeia.
Bastante notável é a ausência dos peixes graúdos do tráfico, aqueles que moram bem longe da favela e ficam com o lucro grosso enquanto seus serviçais, os que no dizer do padre Antônio Vieira “furtam debaixo do seu risco”, fazem raras incursões a Copacabana, Leblon ou Ipanema, permanecendo condenados, o mais das vezes, às idas e vindas do presídio, além do encarceramento que é viver na asfixiante falta de opção entre aderir ao crime ou ser vítima dele. Quanto aos policiais, aparecem invariavelmente como corruptos que entram na favela para achacar, executar vinganças ou encenar o cumprimento de ordens do poder público pressionado pela opinião pública (ainda havia opinião pública naquela época).
Talvez o maior mérito do romance seja permitir a percepção de como a simples malandragem, graduando-se até o estabelecimento como crime organizado, instalou no espaço restrito e miserável da favela a lógica maquinal do lucro, inseparável da precariedade material e subjetiva de seus agentes minúsculos. Outra façanha do autor é mostrar que o grau de violência cresce na proporção em que se reduz a idade com que os meninos entram para o crime, sendo os motivos do alistamento da guerra cada dia mais banais: rivalidades amorosas, brigas por causa de pipas ou bolas de gude. Dessa perversidade precoce, o inesquecível Dadinho, depois autoproclamado Zé Pequeno, é a expressão mais acabada. A lógica do poder entre os criminosos lembra aquele momento do Império Romano em decadência, no qual um simples soldado nomeava a si mesmo imperador, tamanha era a precariedade da organização do Estado em desagregação.
Paulo Lins, eventualmente seduzido pela linguagem poética, no final optou (e fez muito bem) por entregar à edição originais não inteiramente acabados. Pode ser que isso explique não os cochilos de revisão – as editoras brasileiras são muito negligentes nesse quesito –, mas o fato de, nas páginas finais, o escritor ter agido como aqueles autores de telenovelas que resolvem apressadamente o destino de seus personagens. Mas o fato é que nenhuma formalização perfeita lograria obter o mesmo efeito que a simples representação bruta das ações criminosas provoca no leitor. Estando mais para José Louzeiro do que para Rubem Fonseca, o autor deu conta, como só ocorre nos grandes romances, do tempo que lhe coube presenciar. Emociona, intriga e assusta.
Onde encontrar:
Livrarias e sebos