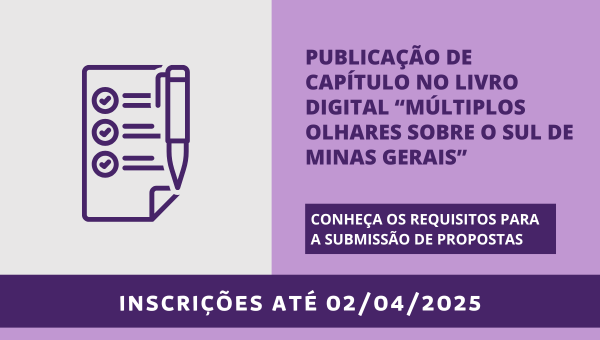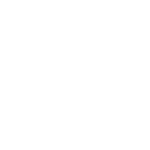Eloésio Paulo
A obra de Waldir de Luna Carneiro, cuja edição ainda é fragmentária, apresenta todos os problemas de um objeto de estudo na fase da aproximação prospectiva, que tem a vantagem de ser a que mais fica próxima da pura e simples leitura por prazer. Está por ser feito um levantamento de seu conjunto, que compreende dezenas de peças teatrais – quase todas, comédias –, um número ainda não definido de contos e centenas de crônicas publicadas, em sua maioria, no extinto jornal O Alfenense. Essa condição de assunto novo, apesar de sua relativa antiguidade, foi um pouco modificada ainda em vida do autor pelo livro Teatro de 55 anos, de João Luiz Lacerda, pela edição dos dois volumes do Teatro completo, que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alfenas custeou, e pela publicação de alguns livros a expensas do próprio autor.
Esse esboço de obra completa está acessível em duas bibliotecas. É possível que todos livros editados de Waldir existam, pelo menos um exemplar de cada, na Biblioteca Municipal, e talvez uma boa parte deles conste no acervo da Biblioteca Central da UNIFAL. O primeiro problema para se ler Waldir, portanto, é o acesso a sua obra, ainda escassamente disponível para aquisição particular.
Numa primeira aproximação mais sistemática a essa obra, duas questões se me apresentaram mais urgentes. A primeira, delinear a poética teatral subjacente às comédias do autor. A segunda, formar uma ideia de conjunto de sua contística, cuja parte já publicada está reunida em três livros, sendo o principal deles a coletânea A paróquia que habitamos, editada pela primeira vez em 1982 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais e depois reeditada pelo próprio autor.
Quanto à poética teatral, fiz dela um despretensioso e apressado rascunho no prefácio à edição do Teatro completo, cujo primeiro volume saiu em 2008. Quanto aos contos, não passei das notas de leitura. Nesta breve apresentação da obra do dramaturgo alfenense, vou-me concentrar nas peças do ciclo de Campina Brava, um total de sete, e em algumas das narrativas curtas em prosa. Como já ficou implícito, a tarefa de estudar os escritos waldirianos (passe o termo) não é para uma só pessoa, sendo possível apenas, aqui, contribuir modestamente para que as bases desse estudo futuro e coletivo sejam ampliadas, e o conhecimento de seu trabalho ao menos um pouco amplificado. Fica para os estudiosos vindouros o levantamento das fontes e influências desse escritor de cultura enciclopédica, que costumava citar com frequência autores de que quase ninguém mais se lembra, como Pitgrilli e Giovanni Papini. Imagino que Molière e Martins Fontes sejam atalhos obrigatórios, mas é certo que o repertório teatral de Waldir ia muito além dessas referências tão óbvias quando se trata de comédia.
No arremate do esclarecedor prefácio “Waldir de Luna: um prâmbulo afetivo e defectivo”, feito para o segundo volume do Teatro completo, Marcos de Carvalho diz que, depois do ciclo de Campina Brava, “a presença arquetípica do Coronel Bezerra não se impõe à ação”. Os futuros estudos da poética teatral de Waldir, porém, talvez venham a demonstrar que personagens e situações dramáticas foram constantemente reelaborados ao longo do ciclo de Campina Brava e também depois dele. Na peça “A dupla”, por exemplo, fica evidente que a personagem Helena é uma nova versão de Marieta, a qual comparece em quase todas as comédias daquela série.
Assim também o Coronel Nestor Bezerra, que já começa a “reencarnar” no Major Sebastião, “que não perde eleição”, e o mesmo ocorre com vários outros personagens daquelas primeiras peças. É que a poética teatral do autor acaba compondo uma espécie de novela, cujo enredo gira sempre em torno das fixações mentais do Coronel. E refiro-me a “novela” pensando na definição desse gênero por Umberto Eco no livro O Super-Homem de massa: uma estrutura narrativa que poderia ser sempre recomeçada, desde que considerasse a hipótese de o protagonista morto, de algum modo, renascer.
O limite da grande novela teatral de Waldir é o realismo. Como também disse Marcos de Carvalho em seu prefácio, o dramaturgo faz uma representação muito pessoal de fatos históricos. E acrescento: um dos motores de sua poética é a ridicularização do provincianismo, personificado principalmente pelo Coronel, que em certa passagem de Ao terceiro dia, baixou, declara: “Só aquerdito em úrtima novidade.” Em tempo: o realismo também tem, no teatro de Waldir, seu próprio limite, assinalado pelo nonsense. Mas esmiuçar esse problema implicaria uma análise dos jogos de linguagem amiúde criados em meio aos diálogos, e tal não caberia no espaço restrito deste esboço.
Dentro do referido limite realista, a “novela” composta pelas sete peças do ciclo de Campina Brava começa no início dos anos 50, época da ambientação de O zebuzeiro, quando Nestor Bezerra terá seus 40 e tantos anos, e termina já no fim do milênio, quando ele aparece aos 90 anos, sentando numa cadeira de rodas, em Hosana nas alturas, a última comédia da série. Uma peça atrás da outra, os enredos são movidos pelas manias do Coronel: primeiro a paixão pelo touro Policarpo, homônimo de um sobrinho há muito ausente; depois o futebol e a luta contra a construção da represa de Furnas; em seguida, uma eleição perdida, a agiotagem, a lorota dos etês e o projeto de construção de um edifício que mataria de despeito o adversário político Boaventura, a outra força econômica e eleitoral de Campina Brava.
O termo “mania” quer dizer exatamente o que diz. É um dos nomes mais antigos da loucura, e Nestor Bezerra é dado a chiliques e desfalecimentos toda vez que sua vaidade e seus interesses são incomodados. Não por acaso, mencionam-se algumas vezes as internações do Coronel num hospício de Campinas, onde ele chegou a receber a famigerada eletroterapia. Nesse percurso, o personagem vai sendo reelaborado a cada episódio da história local transposto para o palco. E, mais uma vez conforme notou Marcos de Carvalho, a história local é para Waldir uma história pessoal, da qual saem direto para o palco figuras muitas vezes inspiradas em gente de verdade. A começar pelo próprio Nestor Bezerra, que alguém já cogitou ter sido moldado, ao menos no início, pela observação de certo pecuarista local.
A reelaboração de personagem é ainda mais notável no já mencionado caso de Marieta. Ela evolui sensivelmente de peça para peça, passando de sobrinha enjeitada, uma espécie de gata borralheira humilhada pelos privilégios de Ofélia, a neta postiça do Coronel, a mulher volúvel, namoradeira, mas também se torna, crescentemente, dona de uma verve crítica que vocaliza muitas vezes a ironia do próprio autor. Em Hosana nas alturas, estará a “procurar macho no computador” e “puxar maconha”, nas definições de seu marido Alípio, então já decidido a passar a ex-marido. As frases de Marieta são um espetáculo à parte, ouso dizer que ela é a principal porta-voz do aspecto mais ácido do humor de Waldir.
Alípio também muda ao longo do ciclo. De um simples caipira à Mazzaropi, evolui para jogador de futebol, assistente de agiota e prosélito da revolução proletária. O mesmo se diga a respeito de Ofélia, no início apenas uma mocinha “fresca”, como outrora se dizia, e, depois de várias reaparições ao longo das comédias, cantora de músicas de protesto.
Esses são os principais elementos fixos do elenco. Outros mudam de nome, mas permanecem essencialmente com a mesma função: a viúva com quem Nestor Bezerra entretém amores (Leôncia, Rozenda, Aurora Bening); o filho dessa mesma dona, um sujeitinho infantilizado (Tonico, Ernestinho); o sabichão que chega de longe trazendo um suposto conhecimento quase sempre sem lastro, mas capaz de seduzir os provincianos, em especial o Coronel (o engenheiro Macário, a ufóloga de araque Eneida e outros).
Do mesmo modo, o mecanismo cênico reitera seus expedientes de uma peça para outra. Por exemplo, o telegrama que, recebido na penúltima cena, precipita o desfecho, virando pelo avesso o comportamento do protagonista. Isso só parar ficar em poucos dos elementos que evidenciam uma poética teatral em construção ao longo do ciclo de Campina Brava. Outra vereda seria a própria estrutura cênica, feita de contínuas e sincronizadas entradas e saídas dos personagens, de modo a compor pequenos quadros que, em sua sucessão, fazem a narrativa movimentar-se de modo ágil e capturam a atenção do público.
Não se pode concluir este breve sobrevoo sem lembrar que o texto teatral é como a partitura musical: os elementos do código estão ali, notas, acordes, compasso, andamento – mas quem produz o resultado final é o intérprete. E, se as comédias de Waldir já são divertidas como leitura, ganham muito em qualidade, como diversão e como obra de arte, quando encenadas por atores competentes. Nesse aspecto, o dramaturgo teve a grande felicidade de haver contado, ao longo de seis décadas, com sucessivas trupes de enorme talento e com um sucessor à sua altura na direção do Teatro Alfenense de Comédia.
O estudo das crônicas de Waldir, algumas das quais reunidas no volume Allegro (2011), dependerá essencialmente do acesso ao arquivo do jornal O Alfenense, hoje em mãos de particulares. Quanto aos contos, não devem ser muitos e os principais foram publicados. Alguns deles são exemplares admiráveis da contística brasileira moderna, sendo “Pipico” o mais bem logrado de todos.
O título desse conto foi melhorado, na adaptação televisiva da Globo, para “A grande promessa”. Como nos textos que melhor ilustram as características desse gênero, a narrativa toma o relato já próximo de seu desfecho: está lá o Pipico, jogador de futebol interiorano, em Belo Horizonte, iludido pela promessa de que a carta de apresentação do chefe político de sua cidade lhe garante a chance de mostrar seu talento no Cruzeiro, no Atlético, no América que seja. O desenvolvimento dado por Waldir a esse enredo parece apontar para a possibilidade de um romance; o drama de Pipico é tocante, a humilhação que ele sofre coloca diante dos olhos do leitor a injustiça e o desamparo, e o desfecho trágico é completado pela ironia amarga: não é que o deputado ainda tira proveito político da morte do pobre jogador?
É o melhor conto de Waldir, e não porque se desvia da tendência irreprimível ao humor, que predomina em “Dona Bolacha” e “A polêmica”. Em “Pipico”, o enredo é mais complexo, o drama é mais denso, e os personagens são analisados em vez de apenas expostos, em sua ridicularia, por meio das falas.
Outro que mobiliza emoções é “Pé-de-meia”, no qual um menino faz o pequeno milagre de repor a coleção de discos de seu avô, imigrante italiano na época da Segunda Guerra, coleção que havia sido espatifada durante uma mudança – deixando o velho amargurado.
Em “Nasce um gerente”, nota-se mais uma reciclagem do esquivo Nestor Bezerra, colocado na pele de seu antagonista das comédias, o Coronel Boanerges Boaventura. Esse conto faz parte do trio premiado no concurso que deu origem ao livro O folclore da Caixa (1984); nele, a principal mola do enredo é a divertida artimanha inventada por um gerente de banco para converter em cliente o mais endinheirado cidadão de sua nova praça.
Ainda dessa série “bancária”, reunida no volume Quarteto (2013), temos “Cargo de confiança”, outra obra-prima do conto waldiriano. Aí, o funcionário de uma agência interiorana planeja, durante uma viagem de trem, fugir para a Argentina com o pacote de dinheiro de que fora feito portador. A evocação da paisagem regional daqueles tempos (o Sul de Minas não conta com trem de passageiros desde os anos 1960) é um primor de descrição realista; igualmente primorosa é a análise psicológica do pequeno funcionário de banco, tipo humano que o autor devia conhecer muito bem: foi, até aposentar-se, gerente da Caixa Econômica Federal em Alfenas.
Neste levantamento um tanto apressado, apesar de consistir já em releitura, o que mais me chama a atenção é a ridicularização – eminentemente política, no sentido de que não existe cultura apolítica, assim como nossos dias estão a confirmar que não há religião apolítica, nem mesmo futebol apolítico – do provincianismo. Vivendo uma longa vida no interior, mas tendo conseguido sempre enxergar seu cotidiano com a devida distância crítica, o escritor alfenense compôs um painel ao mesmo tempo engraçado e acabrunhante das limitações da existência interiorana: a “cidadezinha qualquer” de sua imaginação, para citar o poema de Drummond, é sempre Alfenas, talvez um pouco tisnada pelas recordações da Santa Rita do Sapucaí natal – grande diferença!, diria a Marieta –, e sempre povoada de uma gente que ignora, por estar afogada na insignificância do cotidiano, o fato de viver encenando uma paródia local da infindável e repetitiva tragédia humana. Aqui cabem, é claro, duas citações: Marx advertindo que “a História se repete como farsa”; e Tolstói, aconselhando os escritores que quiserem atingir o universal a falar de sua própria aldeia.