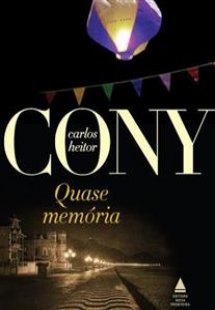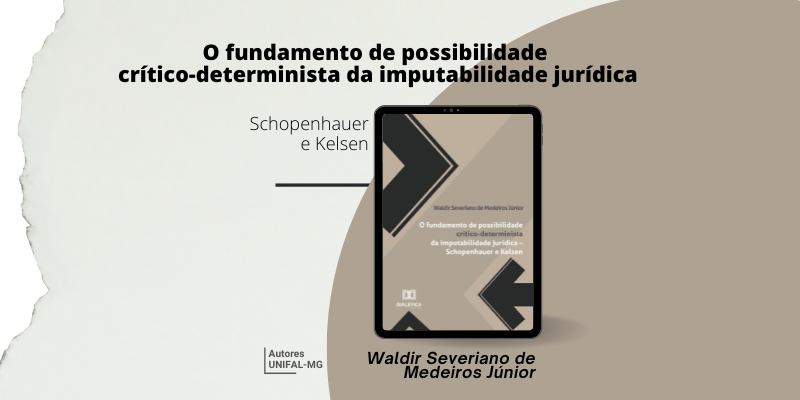“Memórias guiadas pela ternura”, por Eloésio Paulo sobre o livro “Quase memória” de Carlos Heitor Cony
O quase do título remete à consciência, incontornável para qualquer escritor lúcido, de que não é possível separar totalmente ficção e memória. Já o reconhecia o velho Bento Santiago no início de Dom Casmurro, sua tentativa de recapitular a própria vida: “Pois, senhor, não consegui recompor nem o que foi nem o que fui.” Nesse romance abertamente autobiográfico, cuja primeira parte retoma o (muito) anterior Informação ao crucificado (1961), Carlos Heitor Cony parte da admissão de que não conseguiu, ou nem tentou, delimitar a fronteira entre lembrança e invenção.
Para o leitor, fica a impressão de que a maior parte da narrativa é recordação, até porque nela abundam nomes de pessoas reais, a começar pelo narrador, que leva o nome e a pátina biográfica do próprio autor. Mas o personagem principal vai adquirindo, ao longo da história, contornos quase fantásticos em sua surpreendente (por que não?) coerência consigo mesmo. Ernesto Cony, pai do escritor, parece ter sido uma modesta encarnação brasileira de Dom Quixote, com seu hábito de pôr em prática, dia após dia, a promessa feita todas as noites antes de dormir: “Amanhã farei grandes coisas.”
Mas as grandes coisas do Cony pai eram, de fato, atos excêntricos que muitas vezes ficavam entre o simples exercício de uma paternidade amorosa e a vizinhança da loucura. Ele começa aparecendo nos lugares mais improváveis para levar merenda ao filho seminarista ou furtar mangas num quintal e termina dispondo-se a enfrentar, armado de uma simples faca, os esbirros da ditadura militar, os quais imaginava prestes a invadir a redação do Jornal do Brasil, onde trabalhava na época do golpe de 1964.
O pretexto para a narrativa é um pacote recebido pelo escritor durante uma recepção no hotel Novo Mundo, em Copacabana. Pelo estilo do embrulho, até pelo seu cheiro, mas principalmente pela letra e pelo tipo de nó do barbante, o narrador fica na certeza de que a encomenda lhe havia sido enviada pelo pai. Mas como, se a história se passa dez anos depois da morte de Ernesto Cony? Esse é o parco suspense em que se apoia o desenvolvimento do romance: cada impulso para abrir o pacote é interrompido por uma lembrança das aventuras do pai, e isso se estende por mais de 200 páginas.
O estilo de Cony, do tempo em que o jornalismo brasileiro primava pela escrita de qualidade e a grande imprensa tinha em seus quadros redatores como Graciliano Ramos e Nelson Rodrigues, “segura” a fragilidade do enredo. Ao mesmo tempo em que reconstitui episódios isolados da vida do pai, Cony entremeia à narrativa figuras humanas reais, descontada a mencionada refração ficcional, que valem por grandes personagens de qualquer literatura. Entre elas, destacam-se um italiano supostamente fugitivo de guerra e o governador de Minas Gerais em 1930, época da revolução (esta, sim) que colocou Getúlio Vargas no poder: o pobre Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, vítima de dois escroques cariocas, transgride duas vezes sua proverbial honestidade administrativa e termina jogando fora 600 contos de réis na balela de uma candidatura à presidência da República. Esse episódio, um dos pontos altos do livro, tem a estrutura típica de uma anedota, mas bem que pode ter sido verdadeiro.
Nele, Ernesto Cony teve uma participação lateral e até mesmo secundária. Em outra passagem, porém, seu filho gasta uma boa dezena de páginas e nos dá outra piada, digna de um conto de Lima Barreto. Apontado pelo amigo italiano como um dos mais influentes jornalistas brasileiros (o que estava longe de ser), Cony pai se envolve numa empreitada provinciana transcontinental: é escolhido como garoto-propaganda da pequena estância italiana de Fiuggi, cujas “águas milagrosas” haviam curado até um papa, além da bursite que Michelangelo adquiriu ao pintar a capela Sistina, e inicia um complicado périplo que vai do Rio de Janeiro a Piracicaba, São Paulo, Santos e Recife, porto onde deveria tomar um cargueiro que o levaria à Itália. A viagem é frustrada, mas, de volta ao Rio, o viajante convence seus colegas de que havia estado na Europa. Lembra muitíssimo o enredo de O mandarim, de Eça de Queirós.
No final das contas, o próprio Cony pai era um tremendo ficcionista. A cada aventura ou simples fiapo de realidade, ia acrescentando ao longo de sua comprida existência — morreu com 91 anos — detalhes e mais detalhes, de modo que cada um dos episódios, em sua versão, teria muitos capítulos a mais do que na narrativa do filho.
Quase memória (1995) é como que uma autobiografia por procuração. Carlos Heitor Cony, ao assumir o encargo de narrar episódios da vida de seu pai, porta-se como se o tal embrulho recebido no hotel viesse lembrar-lhe de uma dupla obrigação: a do filho, que com ternura e saudade se lembra do autor de seus dias; e a do velho escritor que, de tanto inventar personagens, achou que valia mais a pena fingir que inventava alguém que de fato existiu e cuja morte, confirmando a assertiva de Freud, foi o principal acontecimento da sua vida.
Onde encontrar:
Editora Nova Fronteira/Ediouro