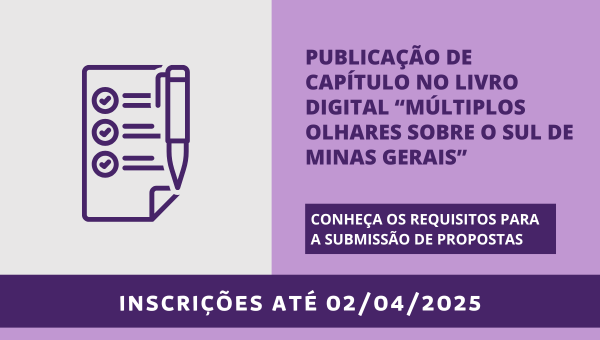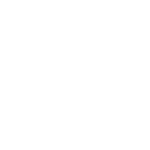Um seminário promovido pelo Grupo de Estudos Indígenas (GEI) do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) da UNIFAL-MG reuniu comunidades indígenas na Instituição, na última semana (dias 7 e 8/12). A proposta do evento foi estabelecer canais de diálogo entre as comunidades indígenas e a UNIFAL-MG para futura elaboração participativa de uma política de acesso e permanência de estudantes indígenas na Universidade. Na oportunidade, representantes da etnia Xucuru-Kariri e da etnia Kiriri da cidade de Caldas-MG concederam entrevista para a equipe da Diretoria de Comunicação Social.
A pajé Thyōxyäēpuē – Josefa Ferreira da Silva, e a etnóloga Milta Margareth Barbosa, da comunidade indígena Xucuru-Kariri; bem como o cacique Adenilson de França Santos e a professora Carliusa Francisca Ramos, da comunidade indígena Kiriri, contaram um pouco sobre suas histórias, suas tradições e quais as expectativas em relação à abertura da UNIFAL-MG para discutir estratégias de acesso e garantia de permanência de estudantes indígenas na Universidade.
Confira a seguir:
Etnia Xucuru-Kariri – instalada no território indígena Fazenda Boa Vista de Caldas-MG

A etnia Xucuru-Kariri, que ocupa o território indígena Fazenda Boa Vista em Caldas, foi a primeira aldeia indígena a habitar uma cidade no Sul de Minas. Como vocês chegaram à região e como foi o processo de adaptação na cidade de Caldas?
Pajé Thyōxyäēpuē – Josefa Ferreira da Silva: Nós chegamos em Caldas em 20 índios em 2001 através do presidente da FUNAI de Brasília. Onde a gente morava, em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, era muito sofrido para gente trabalhar e manter os nossos filhos. Eu sou mãe de 12 filhos e era muito difícil nesse tempo lá para a gente sobreviver. Aí o cacique, que era meu marido José Sátiro do Nascimento, falou comigo que ia dar o fora de lá, que não ia matar os filhos de fome. Aí fomos para Brasília e quando chegou lá, o presidente da FUNAI achou por bem colocar os funcionários dele para andar com a gente e olhar as terras da União, aí nos agradou aqui um Caldas, em Minas Gerais. Assim que nós chegamos foi difícil porque os caldenses não tinham costume com índios e eles não queriam se habitar com a gente. Mas através da prefeitura, eu agradeço a Prefeitura de Caldas, que fez com que a sociedade caldense entrasse em acordo e se habituasse com os indígenas.
Atualmente o grupo é composto por 150 indígenas. Quais são as atividades do grupo e como fazem para manter a cultura e as tradições entre gerações?
“O não índio tem costume de fazer festa, dançar forró e os costumes dos nossos antepassados, as nossas danças, o nosso forró é o nosso toré. É uma tradição para o nosso divertimento e que mantemos até hoje”, conta a pajé Thyōxyäēpuē – Josefa Silva.
Pajé Thyōxyäēpuē – Josefa Ferreira da Silva: Nossa tradição nós não abrimos mão. É quando nós agradecemos o pedacinho de terra lá em Caldas, onde tem mata, tem nossa moradia e nós fizemos a nossa outra moradia. Lá é onde a gente sustenta a nossa cultura, o nosso ritual, nossos costumes e nós nunca abandonamos e nem vamos abandonar. Nós estamos cultivando as tradições como o toré, que é uma dança que nós nunca abrimos mão, que já foi deixada pelos nossos antepassados. Porque o não índio tem costume de fazer festa, dançar forró e os costumes dos nossos antepassados, as nossas danças, o nosso forró é o nosso toré. É uma tradição para o nosso divertimento e que mantemos até hoje.
Como é a educação na aldeia? A comunidade tem escola? Como funciona?
Etnóloga Milta Margareth Barbosa: A aldeia tem uma escola que funciona desde a educação infantil, que é de quatro anos, até o ensino médio, que é 17 anos e 11 meses. Também tem a educação de jovens e adultos. A partir do ano que vem, a gente vai ter o serviço de creche dentro da etnia. Hoje são 50 alunos matriculados regularmente. A Escola Estadual Indígena Xucuru-Kariri Warkanã de Aruanã foi fundada pelo estado de Minas no ano de 2004, depois de três anos da etnia ter chegado a Caldas. A escola é mantida em sua integralidade pelo estado, tanto a parte de alimentação escolar como despesa de custeio, manutenção, ampliação, reformas e projetos pedagógicos. Nós estamos com um corpo docente de 22 professores e esses professores são todos da etnia indígena.
Em relação ao ensino superior, existem índios que conseguiram acesso à universidade? Quais são as principais dificuldades de acesso para o estudante indígena ao ensino superior?

Etnóloga Milta Margareth Barbosa: Nós temos índios que já foram para faculdade. O processo mais difícil para os indígenas é o de permanência. O de ingresso nós já sabemos as dificuldades, então quando você já tem um diagnóstico pronto das dificuldades é mais fácil você lidar com a situação, mas a permanência ainda é muito difícil porque o estudante quando deixa a sua etnia, deixa ali o seu povo, muitas vezes, não consegue ter uma adaptação favorável dentro da universidade e ele retorna. Ou então ele tem uma adaptação que não favorece a manutenção da sua cultura e ele não retorna. Então hoje nós estamos aqui na UNIFAL-MG justamente para tratar sobre o processo de afirmação e permanência do estudante nas instituições de curso superior, que é de extrema importância para a etnia. Uma vez que a etnia já manteve contato com os não indígenas, então agora ela tem que progredir nesse sentido de acompanhar a cultura, que não é estática, está sempre em transformação, em ascendência, e para que isso ocorra de forma eficaz e plena dentro da cultura, eles precisam ter esse acesso às diversas políticas públicas do Brasil e a UNIFAL-MG nos proporcionou então esse encontro, para que a gente possa debater as melhores formas do currículo da Universidade.
Como vocês veem a iniciativa da UNIFAL-MG em abrir espaço para discutir políticas de acesso e permanência do estudante indígena na Universidade?
“Além de colocar o nosso estudante dentro da Universidade, nós precisamos saber o que ele vai fazer da vida dele depois, porque se ele for retornar para a aldeia, que é o que a gente sempre espera, como que ele vai exercer essa profissão que ele escolheu?!”, ressalta a etnóloga Milta Barbosa.
Etnóloga Milta Margareth Barbosa: Foram dois dias intensos e muito proveitosos aqui, de bastante conversas. Nós conhecemos vários pontos da Universidade, como laboratórios, o próprio museu, riquíssimo da UNIFAL-MG, conhecemos a biblioteca, as quadras de esportes, alguns programas de extensão que a Universidade oferta, pudemos almoçar dentro da Universidade para conhecer a comida, que é saborosíssima, as pessoas da equipe são bastante atenciosas, enfim, nós conhecemos o espaço físico aqui da unidade, alguns professores, os cursos que são ofertados e foi um momento muito bom, porque o vice-reitor estava presente e ele pôde ouvir nossas demandas, nossos anseios e foi uma primeira conversa. Agora nós estamos aguardando os frutos dessa primeira conversa. Vamos aguardar a Universidade que ficou de nos visitar para gente estreitar esses laços e dar continuidade, porque não é um feito que nós vamos conseguir dentro de um curto espaço de tempo. Nós acreditamos que os próximos 24 meses são de suma importância para que isso se efetive.

Quais são os principais desafios nesse momento em relação às estratégias do acesso e garantia de permanência no ensino superior?
Etnóloga Milta Margareth Barbosa: No momento, além de colocar o nosso estudante dentro da Universidade, nós precisamos saber o que ele vai fazer da vida dele depois, porque se ele for retornar para a aldeia, que é o que a gente sempre espera, como que ele vai exercer essa profissão que ele escolheu?! Então a gente precisa superar esses obstáculos para que esse estudante não se frustre. Porque depois, ele pode escolher talvez algo que ele queira desenvolver dentro da comunidade, mas que não será possível. Então ele terá que deixar a comunidade. Esse debate é de extrema importância para a comunidade indígena, é um debate que eu espero que não se encerre aqui, principalmente no que concerne o currículo e a ascensão dos indígenas no espaço de protagonismo que eles merecem.
Etnia Kiriri – instalada no território indígena Rio Verde de Caldas-MG
Como a comunidade indígena chegou à região?

Cacique Adenilson de França Santos: Faz sete ou oito anos que nós estamos na região. A aldeia mesmo vai fazer seis anos em março. A gente saiu da Bahia [município de Muquém de São Francisco) em 2016 e chegando aqui em Caldas, a nossa família e outros que ficaram lá, ligavam perguntando como é que era aqui, e alguns quando vinham passear, não queriam voltar. Chegou uma época, em que a gente estava com 32 pessoas dentro da nossa casa. Não tinha nem espaço para dormir mais.
Como vocês conheceram Caldas e decidiram por morar lá?
Cacique Adenilson de França Santos: Eu conheço Caldas desde 2001. Eu passei por lá e fiquei um tempo e depois eu lembrei que eu conhecia uma região de Minas, que chovia bastante e tinha muito serviço para trabalhar em roça, e surgiu essa ideia de vir para cá com ela [a esposa Carliusa Ramos] e meus filhos. Depois surgiu a ideia de pesquisar uma terra na região, porque minha casa encheu de gente. Aí a gente foi observando que não tinha como sair para morar fora da aldeia, vendo as nossas necessidades, os nossos rituais, as nossas brincadeiras. Nós começamos a procurar um terreno para começar a cultivar nossas coisas e na nossa pesquisa, encontrei esse terreno lá em Caldas, que era do estado e estava abandonado na época, e quando a gente ocupou foi descobrir que era da UEMG [Universidade Estadual de Minas Gerais]. E aí por um tempo determinado tinha que voltar para o estado, não foi feito esse documento de volta. A gente sofreu reintegração de posse e até chegar o momento que trocou o reitor da UEMG, aí a gente conseguiu sentar com a reitora e, graças a Deus, hoje a nossa aldeia é regularizada como terra indígena.
Como a aldeia está formada atualmente?
“Nós começamos com 32 pessoas e hoje estamos em 80, entre crianças e adultos. Muitos vieram, mas não se adaptaram ao frio, mas aqueles que ficaram se acostumaram e quando vão lá visitar, querem vir embora logo. Nós fizemos uma bela história aqui, conseguimos o nosso terreno, construir uma escola, colocar energia nas nossas próprias casas”, narra o cacique Adenilson Santos.
Cacique Adenilson de França Santos: Nós começamos com 32 pessoas e hoje estamos em 80, entre crianças e adultos. Muitos vieram, mas não se adaptaram ao frio, porque a região norte da Bahia é muito quente. Mas aqueles que ficaram se acostumaram e quando vão lá visitar, querem vir embora logo. Nós fizemos uma bela história aqui, conseguimos o nosso terreno, construir uma escola, colocar energia nas nossas próprias casas. É muito difícil em cinco anos construir o que nós já construímos.
Quais são as principais atividades e tradições do grupo, e como são realizadas?
Cacique Adenilson de França Santos: As nossas atividades, as nossas culturas, nós fazemos duas vezes no mês. Um é a ciência e outra é o toré. Lá na Bahia, a gente fazia de 15 dias em 15 dias, mas lá o tempo é diferente, aqui a gente sofre mais com o tempo, então a gente colocou uma vez no mês a nossa ciência e o toré, no caso são 12 por ano. As nossas outras atividades como o trabalho mesmo, graças a Deus, a gente conseguiu empregar bastante indígenas na escola e tem alguns no posto de saúde também. Uma coisa que eu fui fazendo é tirando eles da roça e colocando lá, porque o serviço de roça na região é muito perigoso. Eles usam muito produto químico na lavoura, então você está pegando batatinha e sentindo cheiro, e já teve indígena que chegou a adoecer. E aí eu vou conseguindo algumas atividades lá dentro da aldeia mesmo para não precisar sair para fora, mas não tem como empregar todo mundo.
Como é a educação na aldeia? A comunidade tem escola? Como funciona?

Professora Carliusa Francisca Ramos: Temos escola que funciona da creche ao ensino médio e, também, o EJA médio e o EJA fundamental. São 50 alunos. Os professores são indígenas da comunidade, e para a gente é gratificante ter a escola dentro da nossa comunidade, porque a gente pode administrar do nosso jeito. Escola indígena e uma educação em escola indígena são coisas diferentes. A gente pode trabalhar esses dois, tanto a escola indígena quanto educação em escola indígena. Com a educação escolar indígena, eu estou dando aula, aí chega um membro da comunidade de outra série, ele vai assistir aula normal. Tanto faz estar matriculado ou não. Se na hora da merenda, na hora do intervalo, se chegar os membros da comunidade, todo mundo come junto. Então isso aí é uma educação escolar indígena, é diferenciada. Se hoje eu vou fazer um mutirão na minha comunidade, eu, como diretora, eu posso pegar merenda da escola e dar comida para o povo do mutirão da comunidade. A merenda escolar vem do estado. É o estado que paga também os profissionais. A creche é a prefeitura quem paga.
Mesmo com o ensino completo dentro da aldeia, existem indígenas que estudam na cidade?
Professora Carliusa Francisca Ramos: Não. É para isso que a gente luta para ter escola dentro das aldeias, porque além de ter a matéria específica do currículo que a gente tem que cumprir, ainda tem as matérias da comunidade. A gente tem que seguir o currículo nacional e seguir o nosso, indígena. Quando você trabalha dentro da escola da sua comunidade um currículo específico é melhor. Agora você botar um currículo específico dentro da universidade é coisa que a gente não consegue, é muito difícil. Para mim, lá dentro da minha comunidade, já é difícil trabalhar o currículo da comunidade por falta de material. Se eu for falar do uso do território, eu não tenho material, não tenho livro. Se eu vou falar de cultura e saberes, eu não tenho livro. Se eu vou falar de ciência do conhecimento indígena, eu não tenho livro. Então quem dá essas aulas são professoras indígenas que têm conhecimento nessas áreas. São elas que vão passando para os pequenos, e no futuro, esses pequenos, já adultos, vão ser professores e também passar para outros pequenos, esse conhecimento.
Em relação ao ensino superior, existem índios que conseguiram acesso à universidade?
Professora Carliusa Francisca Ramos: Os professores da escola têm ensino superior. Eu sou formada em Letras e eu estou fazendo agora Pedagogia. Só que por conta do meu trabalho, da minha responsabilidade com a minha comunidade, eu não posso estar numa sala de aula. Faço a distância. Então tem os professores que estão fazendo faculdade sim, que trabalham e fazem faculdade. São 19 professores lá na escola. Os alunos ficam o dia todo na escola, entram às 7h da manhã e saem 5h da tarde. Além de os alunos indígenas, temos 15 alunos não indígena estudando na escola.
Quais são as principais dificuldades de acesso para o estudante indígena ao ensino superior?
“A primeira dificuldade é você entrar no ensino superior e aí quando você entra, vem outra dificuldade que é se manter. E aí a preocupação da gente é que quando esse aluno entra na faculdade, de certa forma, ele vai perder um pouco da sua cultura”, compartilha a professora Carliusa Ramos.
Professora Carliusa Francisca Ramos: A primeira dificuldade é você entrar no ensino superior e aí quando você entra, vem outra dificuldade que é se manter. E aí a preocupação da gente é que quando esse aluno entra na faculdade, de certa forma, ele vai perder um pouco da sua cultura. E existe essa preocupação de ter um conforto ou um ambiente para ele praticar a sua cultura. Por exemplo, para dançar um toré, conversar com os mestres ou encantados, essas coisas. Então a nossa preocupação é ele estar dentro da universidade e perder essa cultura, para depois falar: “Eu não vou voltar mais para minha comunidade.” Outra preocupação nossa é que a universidade tenha políticas públicas que realmente contemplem a todos indígenas. A cultura indígena tem que ser muito debatida, porque ela é muito desvalorizada, tem muito preconceitos, mas se a gente puder fazer alguma coisa que dê conforto, para nós indígenas, a gente quer fazer. E a gente tem que fazer bem feito, criar políticas para segurar os indígenas na universidade, com auxílio permanência e moradia. Um indígena pode ser formado do jeito que for, ele não arruma emprego se não for dentro da comunidade. Então existe preconceito sim com nosso povo indígena.

Como vocês veem a iniciativa da UNIFAL-MG em abrir espaço para discutir políticas de acesso e permanência do estudante indígena na Universidade?
Professora Carliusa Francisca Ramos: Achei ótimo. Foi o primeiro espaço que a gente teve. É uma porta que se abre hoje para os povos indígenas e espero que a gente tenha um bom fruto, que a gente possa construir uma boa política para os estudantes indígenas na universidade. É o primeiro passo que a gente está dando e é daí que a gente tem que começar. A gente precisa colocar que não se fala de indígena a não ser indígena. Então quem tem que falar sobre os meus problemas sobre o que está acontecendo dentro da minha comunidade, dentro da minha realidade somos nós, indígenas. Então eu achei bom e espero que numa próxima, mais povos indígenas participem para gente debater, compartilhar os problemas e criarmos políticas juntos.