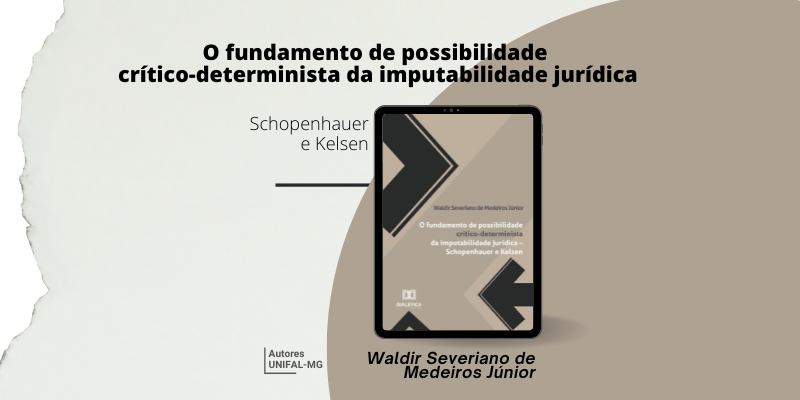Resenha “Memórias do Cárcere”: “Incômodo retrato do Brasil de Vargas, feito ao avesso por Graciliano Ramos”, por Eloésio Paulo
As Memórias do cárcere (1953) podem ser lidas como um romance. E talvez o devam ser.
A primeira edição saiu no mesmo ano da morte do autor, e o livro ficou incompleto; segundo o relato de Ricardo Ramos, filho de Graciliano, faltava apenas o capítulo final, em que seriam tratadas as reações do prisioneiro recém-libertado às coisas e pessoas vistas ou reencontradas no Rio de Janeiro, então capital da República, quase 40 anos depois do período em que o escritor alagoano lá vivera na juventude.
Graciliano foi preso no início de 1936, no bojo de uma onda repressiva que antecedeu a decretação do Estado Novo (eufemismo para designar a ditadura de Getúlio Vargas, vigente até 1945). Ficou cerca de 10 meses na cadeia sem nunca ter havido contra ele uma ação judicial. Diferente do Joseph K. de O processo, porém, o escritor brasileiro não termina sendo executado “como um cão”. O que teve foi sua vida arruinada, a despeito de não haver participado de qualquer dos levantes comunistas usados como pretextos para a onda de prisões.
O modo narrativo de Memórias do cárcere é, com frequência, mais ficcional do que memorialístico. O escritor não conseguiu guardar as notas feitas durante o cativeiro, precisou descartá-las para evitar que fossem apreendidas e pudessem figurar como prova de subversão. Em muitas passagens do livro, fica claro que o detalhamento de episódios e caracteres não seria possível sem largo recurso à imaginação. Uma passagem evidencia isso particularmente: o resumo da vida do homossexual chamado Aleixo, que não só tem o mesmo nome de um dos protagonistas do romance Bom-Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, mas sua história é praticamente a mesma, porém misturada com a de Amaro, a outra personagem principal do mesmo livro.
Igualmente, a narração a partir de uma recordação alheia, como a das desventuras do prisioneiro Francisco Chermont, dificilmente terá apoio apenas na memória de Graciliano, por mais poderosa que ela tenha sido. Assim, a determinação das porcentagens de memória e ficção fica impossível, como de resto em boa parte das obras catalogadas como uma coisa ou outra. A propósito: Hayden White, em Trópicos do discurso (1978), demonstrou como é escorregadio o limite entre os domínios da ficção e da realidade.
A narrativa tem início em março de 1936, quando o escritor morava numa casa na praia de Pajuçara, em Maceió, com a mulher e seis filhos. Apareceram agentes de polícia para prendê-lo e ele foi conduzido de carro e depois embarcado para Recife, onde ficou duas semanas até ser metido no infecto porão do navio Manaus, com destino ao Rio de Janeiro. A partir daí, foram meses de reclusão em vários estabelecimentos penais, sendo o pior deles a colônia correcional da Ilha Grande, que, pelo relato de Graciliano, pouco ficava devendo aos campos de extermínio nazistas. Não por acaso a ditadura varguista teve relações muito amistosas com Hitler, a ponto de enviar para a morte naqueles campos duas militantes brasileiras nas quais coincidiam os “crimes” de serem esquerdistas e terem ascendência judaica. O episódio é mencionado num dos últimos capítulos de Memórias do cárcere.
Além de expor a perversidade de nosso sistema carcerário, que pelo menos naquela época não registrava decapitações espetaculosas, a leitura vale por um mergulho profundo na complicada psicologia de Graciliano. Ele descreve seus percursos interior e exterior ao longo desses meses de reclusão com grande riqueza de detalhes, ainda potencializada pela incapacidade de iludir-se a respeito de nosso destino como país e da própria natureza humana. Entre os grandes escritores brasileiros, o autor de São Bernardo (1934) e Angústia (1936) não foi somente o mais obsessivo com a perfeição do texto; também era o mais incapaz de se deixar prender por qualquer ilusão ideológica. Sua adesão ao Partido Comunista, bem posterior aos meses de prisão, terá todos os motivos menos a crença na patacoada stalinista que era a doutrina oficial da esquerda radical daquela época.
As misérias detalhadas em Memórias do cárcere, especialmente nos meses passados na Ilha Grande, não teria sentido tentar resumi-las. Vão da simples privação de comida à convivência com a escória da sociedade brasileira – presente tanto entre os prisioneiros como entre as autoridades encarregadas de reduzi-los à condição mais subumana possível. A crueldade do sistema prisional, porém, não chega nem perto daquela (por falar em Stálin) detalhada por Alexander Soljenitsin no cartapácio que é Arquipélago Gulag (1973), leitura muito recomendável para devotos do capitalismo de Estado.
Emerge da narrativa de Graciliano um lúcido panorama do Brasil nos anos 1930, porém estruturado pelo avesso, tanto que não existe no livro uma única referência a Getúlio Vargas. Aliás, o próprio Brasil exterior aos estabelecimentos prisionais não penetra neles a não ser por meio de boatos e artigos de jornal – os quais, para o escritor, eram em sua quase totalidade subservientes ao regime varguista.
Em meio a tudo isso, avulta como personagem o próprio narrador, cuja autodepreciação pessoal e literária surpreende a quem dela ainda não teve notícia, por exemplo, por meio da excelente biografia O velho Graça (1992), feita por Dênis de Moraes. Graciliano usa várias vezes o adjetivo “chinfrim” para designar a si mesmo e a sua obra, da qual os dois cumes inexcedíveis tiveram seu princípio de gestação naqueles meses em que o autor esteve, pelo menos em duas ocasiões, à beira da morte: Vidas secas (1938) e Infância (1945). Graciliano, fumante compulsivo, ainda viveu 15 anos depois de ser libertado.
A miséria humana e política descrita nas páginas de Memórias do cárcere talvez traga aos esperançosos um consolo, ainda que débil. É que, mesmo entre indivíduos pagos pelo Estado para torturar e humilhar, alguns conseguiram conservar-se humanos e, por meio de atitudes imprevistas e imprevisíveis de solidariedade, resguardar um pouco da dignidade daquelas pessoas mandadas ao Inferno apenas por terem ideias incômodas aos donos do poder.
Numa chave mais restrita, a leitura pode trazer algum alento no sentido de confirmar que, entre nós, até o fascismo é fajuto, pois essas manifestações de humanidade da parte de esbirros de uma ditadura são virtualmente inimagináveis, por exemplo, entre aqueles autômatos implacáveis fabricados pela Juventude Hitlerista e pela máquina de propaganda ideológica inventada por Goebbels. Pelo menos isso, apesar do recente empenho de certa parte da elite econômica brasileira, ainda não tivemos por aqui.
Onde encontrar:
Grupo Editorial Record