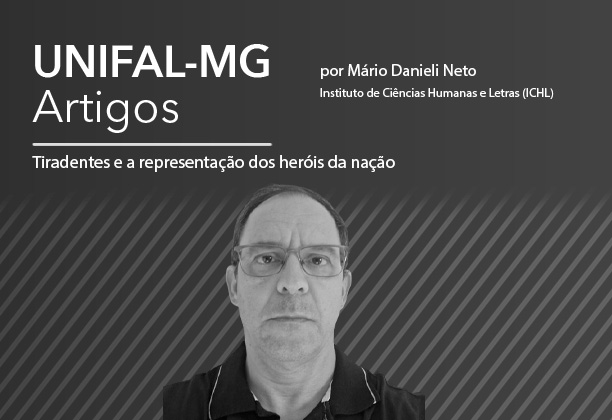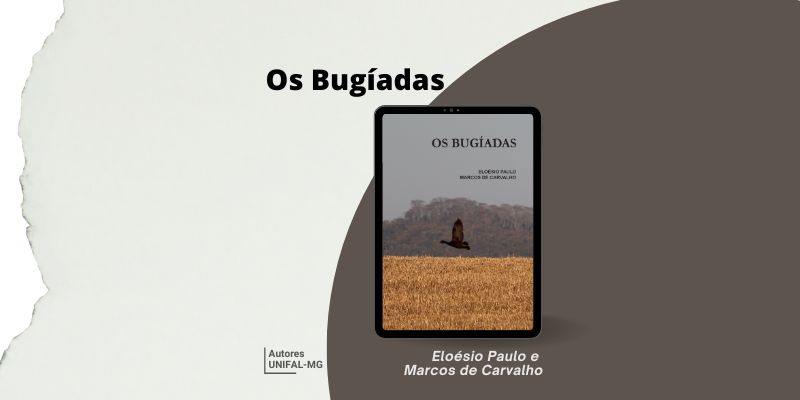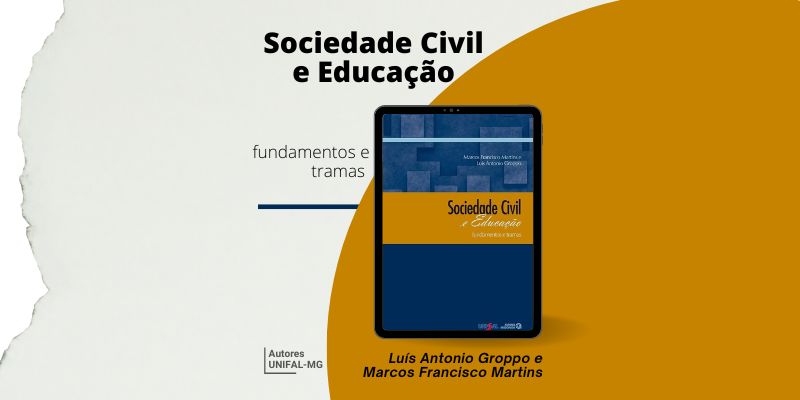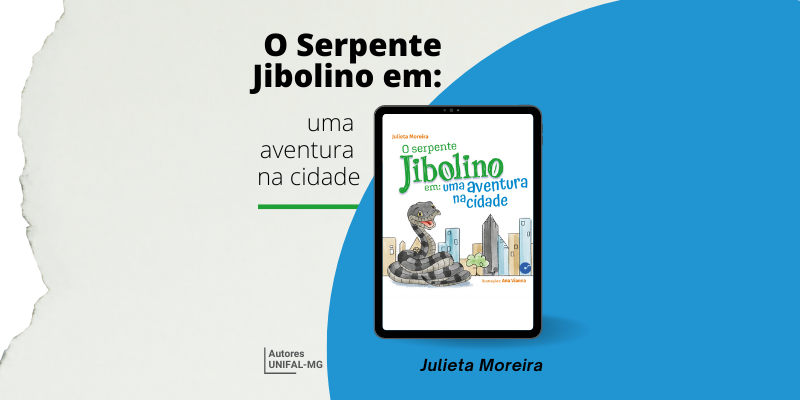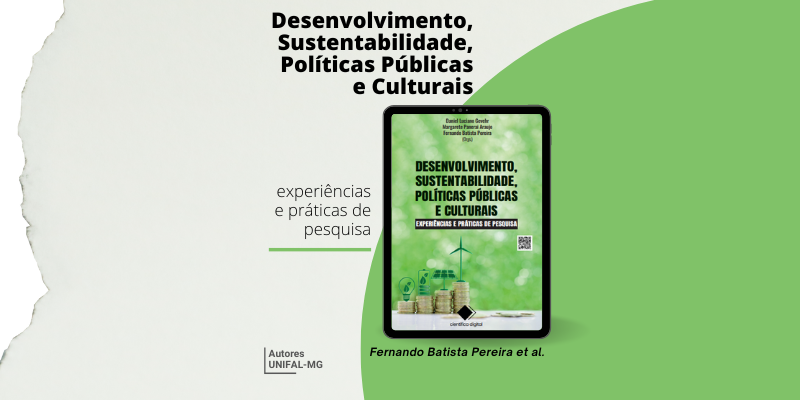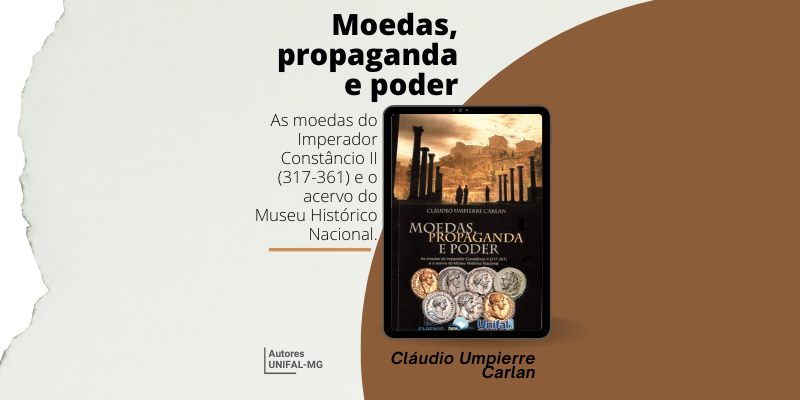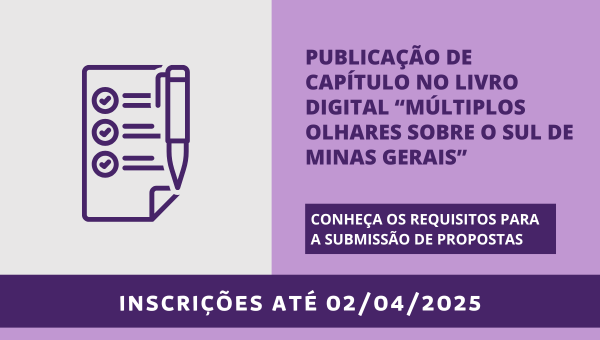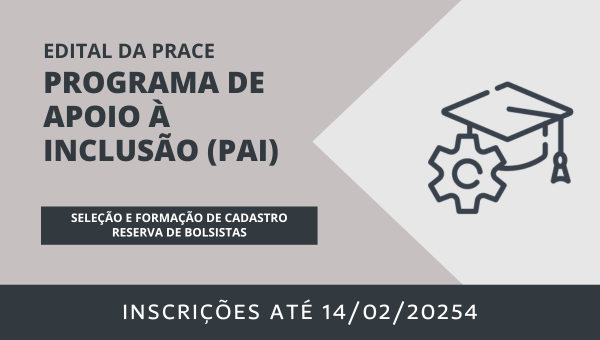Lívia Nascimento Monteiro

A imagem ao lado revela um 13 de maio um tanto quanto desconhecido para a maioria da sociedade brasileira. Em frente ao Paço Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, a população se aglomerou para presenciar e celebrar a assinatura da lei que findou o período escravista no Brasil, no ano de 1888. A foto revela a presença de uma grande parte da população da então capital federal e aponta o que historiografia sobre o tema tem revelado sobre a participação popular nesse evento histórico e nas comemorações e festejos que tomaram conta de todo Império após a assinatura da lei Áurea. A historiadora Renata Moraes (UERJ), afirma que “nos dias seguintes ao fim da escravidão, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, brancos e negros, participaram ativamente dos festejos, missa, cortejos e bailes que marcaram a abolição”.[1]
Como fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão, as comemorações foram diversas no passado e as marcas desse dia – e desse sistema violento, opressor e desumano – ainda são pujantes no tempo presente.
Nas últimas décadas do século XIX, a maioria da população escravizada já tinha conquistado a liberdade, através das leis emancipacionistas[2], da compra coletiva de alforrias, das revoltas e fugas, além das ações de liberdade pleiteadas na Justiça no período. O historiador Sidney Chalhoub (Unicamp), ao recuperar em importante pesquisa histórica as diversas experiências da vida dos escravizados no final desse período[3], é categórico em afirmar que as lutas dos próprios escravizados pela liberdade promoveram o fim desse sistema no Brasil.
Além dessas ações e conquistas por liberdade, a pressão dos grupos abolicionistas foi fundamental para que a abolição acontecesse. Luís Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, Maria Firmino dos Reis e Joaquim Nabuco são alguns dos nomes de sujeitos negros livres ligados aos movimentos abolicionistas que lutaram para o fim da escravização com seus escritos e símbolos – como as camélias, que se tornaram marcas do movimento abolicionista no Rio de Janeiro. Cultivadas em jardins em suas casas ou usadas nas lapelas em roupas, os(as) abolicionistas, especialmente ligados à Confederação Abolicionista, tinham nessas flores um código que os identificava. No Quilombo do Leblon, por exemplo, havia uma plantação de camélias, e lá aconteceram reuniões abolicionistas, com as presenças de José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, entre outros(as), como aponta a pesquisa do historiador Eduardo Silva.[4]
A historiadora Ana Flávia Pinto (UNB), ao estudar a trajetória de diversos homens negros livres do século XIX e seus escritos, destaca em primorosa pesquisa[5] o quanto erroneamente a historiografia atrela a experiência negra no Brasil à escravidão. Para a pesquisadora, é fundamental que as narrativas históricas apontem para as formas de organização e participação dos sujeitos negros livres no processo de desmontagem da escravização no Brasil, com atuação direta nos jornais, na política e em outras esferas da vida brasileira no século XIX.
A Lei Áurea, assinada às pressas e por intensa pressão que toda família imperial sentia, tem escrita simples e objetiva a frase “está extinta a escravidão”, com a assinatura da então princesa do Brasil, Isabel Cristina de Bragança e Bourbon que, definitivamente, não deve mais ser apresentada como a figura que garantiu a liberdade. Muito pelo contrário. Sob forte pressão popular e dos países que pleiteavam a abertura do mercado e economia brasileira – como a Inglaterra –, a princesa e sua família viram-se sem maiores condições de manter esse sistema que já perdurava mais de três séculos, que trouxe forçadamente para o país milhares de africanos de diferentes locais daquele continente e que aprisionou milhares de indígenas, de diferentes etnias, que nas terras brasílicas já se encontravam.
Sem ressarcimentos ou pagamentos de indenizações, a população livre, descendente direta da escravidão, teve que se organizar para efetivamente conquistar a cidadania no pós-abolição, através de associações mutualísticas, jornais, sindicatos e organização dos movimentos negros.
Ao longo de todo século XX, o 13 de maio seguiu sendo lembrado nos terreiros de matrizes afro-brasileiras – como da Umbanda e candomblé, nas festas cívicas, nas escolas – e aqui no sul de Minas Gerais, nas festas do 13 de maio espalhadas pelas cidades e comunidades rurais, especialmente organizadas pelos grupos de congos, catopés, marujos, moçambiques, congadas e reinados, como acontece em Poços de Caldas, com a celebração ligada aos festejos de São Benedito.
Celebrar essa data em pleno 2022 tem outro sentido. É fazer reflexão e denunciar o racismo estrutural[6] que nos compõe enquanto sociedade desigual.
O caminho para o reconhecimento formal dos plenos direitos civis a todos os brasileiros e brasileiras ainda é um longo caminho. Nesse trajeto, a UNIFAL-MG segue o percurso de implementar as cotas na pós-graduação para pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, ciganas, refugiadas, com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. É uma política pública de reparação histórica que visa garantir a esses grupos, historicamente marginalizados, o ingresso e a permanência também na pós-graduação na Universidade que é pública, no país que tem quase 54% da população negra (pretos e pardos) e mais de 300 povos indígenas, conforme o último censo do IBGE. Comemorar essa conquista na Universidade é importante, mesmo com o atraso para mais de um século dessa reparação justa e necessária àqueles e àquelas que foram impedidos de participar efetivamente da vida pública no país.
Como professora de História – branca e, por isso, privilegiada -, o dia 13 de maio é dia de falar sobre o racismo – seja na Universidade, sejam nas escolas, seja na comunidade em geral – e buscar caminhos e práticas para a promoção de uma sociedade antirracista[7]. Recomendo à população branca do país, especialmente aquela que compõe lugares de privilégios estruturadas pelo racismo[8], que faça o mesmo. Lembrar os horrores da escravidão é reparar os erros históricos cometidos, certamente, por nossos antepassados, cara gente branca[9]. Contar outras histórias, tendo o 13 de maio como reflexão, é também um passo para uma sociedade brasileira justa e igualitária no presente e no futuro.
Crédito da imagem de capa: Largo do Paço, multidão saudando a assinatura da lei da abolição. LAGO, Pedro e Bia Correa. Coleção Princesa Isabel. Fotografia do século XIX.
[1] Disponível em: <https://lehmt.org/os-trabalhadores-cariocas-e-as-festas-da-abolicao/>. Acesso em 5 maio 2022.
[2] Em 1850, foi assinada a lei Eusébio de Queirós, que proibiu a entrada de africanos no país. Depois, em 1871, a lei do Ventre Livre determinou que todos os filhos de escravizados nasceriam livres. Em 1885, a lei do Sexagenário libertou os escravizados com mais de 60 anos de idade.
[3] CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
[4] SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a abolição da escravatura: uma investigação de história cultural. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
[5] PINTO, Ana Flávia Magalhães. Escritos de liberdade. Literatos negros, racismo e cidadania no Brasil oitocentista. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.
[6] ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.
[7] Como Angela Davis apresenta, “não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Trad. Heci R. Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. Em se tratando de políticas públicas, a aprovação das cotas na pós-graduação na UNIFAL-MG representa o compromisso ético da universidade pública para a promoção de um país igualitário.
[8] Dialogo nesse sentido com o conceito de branquitude, especialmente trabalhados por Cida Bento e Lia Vainer Schucman. Conferir: BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022; SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. São Paulo: Annablume, 2014.
[9] Dear White People, traduzido no Brasil como “Cara Gente Branca”, é um seriado lançado em 2017, com 4 temporadas, disponível na Netflix, que narra as tensões raciais num conceituada universidade norte-americana.

Lívia Nascimento Monteiro é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e graduada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Atualmente é professora do magistério superior no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG e vice-presidente do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UNIFAL-MG. Currículo lattes